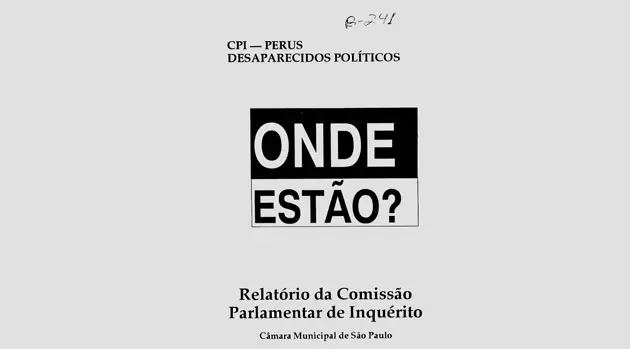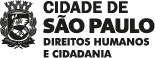Se no teu distrito
Tem farta sessão
De afogamento, chicote,
garrote e punção
A lei tem caprichos
O que hoje é banal
Um dia vai dar no jornal.Chico Buarque, em “Hino da repressão”
— Sala das ossadas, boa tarde!
Ivan brincava ao telefone como uma forma de desopilar, aliviar a tensão, desanuviar a si mesmo e às outras integrantes da Comissão Especial de Investigação das Ossadas de Perus. Suzana e Amelinha davam risada, surpreendidas pelo chiste aleatório em meio a um trabalho naturalmente triste e sombrio.
Não havia osso algum na “sala das ossadas”. Todo o material encontrado na vala havia permanecido lá, no cemitério, sob vigilância. No dia da abertura, não mais do que 50 sacos tinham sido retirados da terra e transferidos para uma sala do prédio da administração. As demais ossadas seriam retiradas da vala durante o mês de outubro, separadas e acondicionadas com a supervisão de peritos e médicos legistas.
Uma mesa e um telefone era tudo o que havia na sala da comissão, instalada no térreo do Pavilhão Padre Manuel da Nóbrega, no Parque do Ibirapuera, onde funcionava a Prefeitura – e onde, anos depois, funcionaria o Museu Afro Brasil. Para os três inquilinos, era mais do que suficiente. Seu olhar estava voltado para o lado de fora: as atividades na Comissão Parlamentar de Inquérito que se desenrolava na Câmara Municipal, a busca pelos arquivos da ditadura, a ampla investigação ainda por fazer. Trabalhavam quase sempre na rua, no encalço de quem tivesse explicações para dar, movidos por uma instigante sensação de que, finalmente, o paradeiro dos desaparecidos estava prestes a ser revelada.
A prefeita Luiza Erundina havia sido muito assertiva ao instalar a comissão de investigação logo no dia seguinte à abertura da vala. E também ao convidar Ivan, Suzana e Amelinha para integrá-la, todos familiares de mortos e desaparecidos políticos. Originalmente, conforme publicado no Diário Oficial do Município no dia 6 de setembro, o “grupo de acompanhamento dos trabalhos periciais de identificação das ossadas encontradas no Cemitério Dom Bosco” foi formado pelos legistas Fortunato Badan Palhares e Nelson Massini, da Unicamp, que assumiriam a coordenação dos trabalhos de catalogação e análise das ossadas, Dalton F. de Assis e Vera Lúcia Figueiredo Osoegawa, do Serviço Funerário, Walter Piva Rodrigues, da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, e Fábio Ulhoa Coelho, da Secretaria do Governo Municipal. Os familiares entraram em seguida.
— Não quero uma comissão de burocratas — declarou a prefeita. — Quero que vocês, familiares, assumam essa comissão para que o resultado não seja somente um relatório impresso em papel timbrado.
Ivan e Suzana tinham vínculos bastante pessoais com o Cemitério Dom Bosco. Ali foram enterrados o pai de Ivan e o marido de Suzana. Desde os anos 1970, os dois tinham ciência da existência de uma vala clandestina naquele cemitério, destino de tantas ossadas exumadas sem indicação de local de reinumação, e por muito tempo haviam esperado uma oportunidade para deflagrá-la. Amelinha, por sua vez, militara no PCdoB e tinha uma história de resistência vinculada à guerrilha do Araguaia. Ali tombaram seu cunhado, André Grabois, e o pai dele, Maurício, em 1973. Sua irmã, Crimeia, estava grávida quando foi capturada pelos militares. Foi torturada com o bebê na barriga e deu à luz na prisão. Já Amelinha fora torturada no DOI-Codi sabendo que o filho Edson, de 5 anos, e Janaína, 4, haviam sido sequestrados por seus algozes e estavam por ali enquanto os choques eram aplicados e a palmatória cantava. Ao final de uma das sessões de tortura, as crianças ingressaram na cela.
— Mamãe, por que a senhora está verde e o papai está azul? — perguntou uma das crianças. Eram os hematomas, as marcas inefáveis da truculência institucional.
Agora, em 1990, Amelinha era diretora do grupo Tortura Nunca Mais em São Paulo. E a filha Janaína, historiadora e testemunha ocular do arbítrio, dali a alguns meses ingressaria também na comissão.
Luiza Erundina deu total autonomia para Ivan, Suzana e Amelinha realizarem os trabalhos como julgassem apropriado. Pediu apenas que, surgindo algo especial ou que fosse sensível, que a avisassem para que não fosse pega de surpresa. A prefeita também orientou os membros da comissão a subir à sua sala, no andar de cima, e a interrompê-la sempre que fosse preciso. O caso das ossadas havia se tornado uma prioridade em seu governo.
No mesmo dia em que foi instalada, os membros da comissão especial de investigação se mandaram para o cemitério. Algo muito importante estava sendo retirado daquela sepultura coletiva, eles sabiam, e era preciso ficar atento. Havia uma guerra silenciosa a tourear, um clima permanentemente conflituoso. Que tipo de reação poderia vir de setores das Forças Armadas envolvidos com os crimes de tortura, desaparecimento forçado e ocultação de cadáveres? Como garantir que as ossadas fossem preservadas, protegendo-as de vandalismo ou de alterações propositais?
No próprio dia 4 de setembro, poucas horas após a retirada dos primeiros sacos de dentro da vala, um delegado da 46ª Delegacia de Polícia, de Perus, determinara a apreensão imediata das ossadas.
— Nada disso — a prefeita decidiu. — A Prefeitura vai assumir este caso. Trata-se de um fato eminentemente político, muito mais do que policial, e este cemitério é do município. A municipalidade é responsável por esses ossos.
Outras tentativas de intromissão não tardariam a surgir, de modo que uma das primeiras tarefas da comissão especial de investigação foi definir, junto com a Prefeitura, alguns protocolos. Foram os familiares, por exemplo, que demoveram a prefeita da ideia de encaminhar as ossadas para análise pelo Instituto Médico Legal.
— O IML é parte do sistema de desaparecimento e ocultação — alertaram, em reunião com a prefeita na tarde de quinta-feira, 6 de setembro.
Eles tinham razão. Nos anos 1970, o IML fora responsável pela falsificação sistemática de exames necroscópicos, expediente utilizado para esconder a verdadeira causa da morte de militantes políticos e também a responsabilidade do Estado. Talvez o caso mais célebre tenha sido o laudo assinado em 1975 pelos médicos legistas Harry Shibata e Arildo de Toledo Viana afirmando que o jornalista Vladimir Herzog, torturado até a morte no DOI-Codi, cometera suicídio. Segundo o exame, ele teria se enforcado com uma tira de pano amarrada a uma janela a 1,63 metro do chão, mais baixa do que ele, e o corpo fora encontrado com as pernas dobradas, numa cena evidentemente forjada para ocultar a morte por tortura. Também no IML, muitos corpos devidamente identificados foram despidos de suas vestes e de seus documentos para serem enterrados como indigentes. Entre 1971 e 1974, principalmente em Perus.
Representantes de entidades como a Comissão Teotônio Vilela e o Centro Santo Dias de Direitos Humanos reforçaram a reivindicação dos familiares em audiência com a prefeita. Uma das informações que mais circularam na ocasião, deixando muitos de cabelo em pé, foi a de que o IML era dirigido por José Antônio de Mello, o mesmo médico responsável por assinar o laudo necroscópico do operário Manoel Fiel Filho, torturado até a morte no DOI-Codi no dia 16 de janeiro de 1976. Erundina entendeu o risco e, mais uma vez, fez eco às reivindicações dos familiares de mortos e desaparecidos.
— Me senti pressionada por essas entidades e confesso que estou insegura com relação ao IML — Erundina declarou ao jornal O Estado de S. Paulo no dia 6. — Estou convencida de que o IML é mesmo um órgão suspeito.
Erundina precisou se reunir mais de uma vez com o secretário de Segurança Pública do Estado, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, a fim de costurar com ele uma alternativa que contemplasse a reivindicação dos familiares: as ossadas iriam para o departamento de medicina legal da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Uma instituição de pesquisa seria mais adequada para esse trabalho do que um órgão ligado à polícia.
A partir daquele momento, nenhuma decisão seria tomada pela prefeita sem ouvir os familiares. Foi assim que Erundina determinou a remoção dos livros do cemitério para seu próprio gabinete, temendo que eles pudessem desaparecer. Foi assim, também, que a prefeita mandou lacrar a sala do cemitério em que as ossadas tinham sido guardadas e ordenou a catalogação de todas as ossadas antes que fossem transferidas para Campinas.
Em poucas semanas, Ivan, Suzana e Amelinha ficaram conhecidos nos corredores da Prefeitura como “trio calafrio”. Jornalistas os procuravam para saber a situação das ossadas e também para que falassem sobre as mortes e desaparecimentos que, até então, jamais haviam tido espaço na imprensa tradicional.
Em 13 de setembro, numa atividade que nada tinha a ver com a Comissão da Prefeitura, mas com a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, que os três também integravam, Ivan, Suzana e Amelinha chegaram de surpresa ao IML, acompanhados por uma advogada e por repórteres e cinegrafistas de televisão, e flagraram uma reunião em que o diretor José Antônio de Mello estava reunido com outros diretores, um promotor e um delegado, tramando uma estratégia para fechar o “museu” ou desviar parte do acervo de modo a se livrar de qualquer material comprometedor. Foi um quiproquó. Suzana notou que o livro com registros e fotografias dos mortos de 1971 havia desaparecido. Amelinha se lembrou de que o governador havia entregado um cartão de visita para ela na semana anterior, durante audiência com a prefeita. Foi até um orelhão e ligou. Apresentou-se como familiar de mortos e desaparecidos e insistiu que tinha urgência em falar com o governador. Orestes Quércia a atendeu prontamente.
— Governador — ela disse —, nós estamos aqui no IML e o diretor não está deixando ninguém entrar, mandou lacrar o arquivo. E ele nem deveria ser diretor do IML, porque foi ele quem assinou o laudo falso do Manuel Fiel Filho.
Por telefone, o governador pediu que Amelinha voltasse no dia seguinte. Prometeu que afastaria o diretor do IML naquela tarde e que, a partir do dia seguinte, o IML estaria com as portas abertas para os familiares de mortos e desaparecidos. E assim fez.
Ao longo de um semestre, o trio calafrio daria muito o que falar. Principalmente, ajudaria a orientar e a acompanhar, dia após dia, as atividades da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada na Câmara Municipal.
***
A Câmara Municipal de São Paulo estava em ebulição na manhã daquela quarta-feira. Ainda era de manhã quando o vereador Júlio César Caligiuri Filho (PDT) protocolou um requerimento para que fosse instituída uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a origem e as responsabilidades quanto às ossadas encontradas na vala clandestina.
Júlio conseguira reunir rapidamente as assinaturas necessárias, tamanha a comoção despertada pela descoberta da vala. O requerimento também demonstrava o interesse do vereador em ir além do Cemitério Dom Bosco e investigar a possível existência de outras valas clandestinas em outros cemitérios da cidade. Dizia o texto:
“Considerando que ontem, 04 de setembro, foi aberta uma vala que continha dezenas de ossadas no Cemitério Dom Bosco, em Perus; considerando que suspeitas sobre a existência de uma vala onde seriam enterrados presos políticos desaparecidos existem desde 1977; considerando que dezenas de presos políticos desapareceram na década de setenta; considerando que o famigerado Esquadrão da Morte fuzilou e sumiu com dezenas de pessoas; requeremos, nos termos regimentais, a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito, com 7 membros e 90 dias de prazo de funcionamento, para apurar a origem e as responsabilidades sobre as ossadas encontradas no Cemitério Dom Bosco, em Perus, e investigar a situação dos demais cemitérios de São Paulo.”
O requerimento recebeu o carimbo e a assinatura do presidente da Câmara, o vereador Eduardo Suplicy (PT), que anunciou os sete membros da CPI durante sessão ordinária na terça-feira seguinte, 11 de setembro: Júlio César Caligiuri Filho (presidente), Aldo Rebello (PCdoB, relator), Tereza Lajolo (PT), Ítalo Cardoso (PT), Antônio Carlos Caruso (PMDB), Marcos Mendonça (PSDB) e Oswaldo Giannetti (PDS). Foi batizada de “Comissão Parlamentar de Inquérito: Desaparecidos”, embora nos bastidores e também nos jornais fosse mais frequentemente referida como “CPI de Perus” ou “CPI das ossadas”. Vencido o período de 90 dias predeterminado, a Comissão seria prorrogada por mais três meses. Na segunda etapa, Aldo Rebello foi substituído por Vital Nolasco, também do PCdoB, e a relatoria ficou a cargo de Tereza Lajolo.
Os trabalhos da CPI começaram sob tensão. Antes mesmo da primeira oitiva, pairava sobre a equipe um clima de ameaça permanente.
O primeiro susto foi causado pelo sumiço repentino de Toninho Eustáquio, o administrador do cemitério, no dia 11 de setembro. Boatos de todo tipo circularam quando Toninho não apareceu no trabalho naquela manhã de terça-feira, uma semana após a descoberta das ossadas. Soube-se, ao longo do dia, que Toninho havia telefonado para o diretor de cemitérios do Serviço Funerário Municipal por volta das 23 horas na noite anterior para avisar que vinha recebendo ameaças de morte e iria com a família para um lugar sigiloso. Também a prefeita de São Paulo ouvira a mesma queixa do administrador, por telefone. Erundina tomara a providência de acionar o secretário estadual da Segurança Pública, Antônio Carlos Mariz de Oliveira, e obtivera a garantia de proteção especial. Toninho voltaria ao trabalho no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, alegando apenas que a esposa passara mal e lhe pedira para que a levasse para a casa da irmã, na Zona Sul da cidade, e a acompanhasse ao posto de saúde. Duas semanas depois, seria a vez de Júlio César Caligiuri, o presidente da CPI, revelar que também estava sendo ameaçado. Ele e sua família haviam recebido dois telefonemas anônimos com ameaças de morte.
A CPI foi oficialmente instalada no dia 17 de setembro, treze dias após a revelação da vala. Foi o início de uma aventura sem precedentes. Pela primeira vez, seriam colhidos depoimentos de pessoas envolvidas no sistema de morte e desaparecimento de militantes políticos, como torturadores, agentes do Dops e do DOI-Codi, médicos legistas que haviam assinado laudos falsos, um ex-prefeito e um ex-governador.
Respaldado no artigo 33 da Lei Orgânica do Município, a CPI tinha poder de “tomar depoimento de autoridade municipal”, “intimar testemunhas” e “inquiri-las”. Se alguém fosse convocado e não comparecesse para prestar depoimento, poderia o presidente da CPI solicitar a condução coercitiva do depoente.
Antes de convocar autoridades envolvidas em denúncias de tortura, falsidade ideológica e colaboração com a truculência da ditadura, os vereadores consideraram adequado ouvir o diretor do serviço funerário, o administrador do cemitério e os sepultadores que trabalhavam no Cemitério Dom Bosco na primeira metade dos anos 1970.
Uma pergunta parecia mais urgente do que todas as outras: quem mandou construir aquela vala?
***
Faltavam vinte minutos para as 10h quando Toninho chegou ao Palácio Anchieta, sede do Legislativo Municipal, naquela manhã de quarta-feira, 19 de setembro. Subiu até o décimo andar e se dirigiu ao auditório Oscar Pedroso Horta. O burburinho no corredor fez aumentar sua ansiedade. Os últimos 15 dias tinham virado sua rotina de pernas pro ar. Ameaças, entrevistas, foto estampada no jornal, reunião com a prefeita, Toninho não estava acostumado com nada daquilo. E, definitivamente, preferia não ter que se acostumar.
Quando uma intimação expedida em seu nome foi entregue na sede do Serviço Funerário, cinco dias antes, Toninho percebeu que a coisa ficava cada vez mais séria. “V.Sa. encontra-se intimada para depor perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito”, dizia o ofício com o timbre da Câmara Municipal. Arrolado como testemunha para a primeira sessão ordinária de oitiva de testemunhas da CPI, Toninho se dirigiu ao número 100 do Viaduto Jacareí, no centro da cidade. Ali, soube que outras três testemunhas tinham sido convocadas para depor na mesma data: Rubens da Costa, antigo funcionário do Serviço Funerário, Rui Alencar, atual superintendente do Serviço Funerário, e Pedro José de Carvalho, assistente administrativo do cemitério de Itaquera e antigo sepultador no cemitério do Lajeado quando houve incêndios criminosos no local.
Toninho foi o segundo a depor, depois de Rubens da Costa. Contou que foi admitido no Cemitério Dom Bosco em 1977 como assistente de administração e promovido a administrador no ano seguinte, ocasião em que se debruçou sobre os livros e procurou saber o destino das mais de 1.500 ossadas com indicação de exumação e sem local de reinumação. O número exato, conforme a comissão de investigação da Prefeitura apuraria a partir da análise dos livros, era de 1.564 corpos exumados. A diferença entre essas 1.564 e as 1.049 localizadas em 1990, conforme dedução dos peritos, seria a presença de aproximadamente 500 crianças com menos de 12 anos de idade, cujas ossadas não resistiram ao tempo. Muito tempo depois, surgiria a hipótese, jamais comprovada, de que uma segunda vala clandestina poderia ter sido construída no mesmo cemitério, em outro local, recebendo essas 500 e pouco ossadas.
Toninho confirmou ainda que obteve a informação sobre a existência da vala e sua localização ainda em 1978 e que, dois ou três anos depois, determinara a abertura parcial da vala para que o engenheiro Gilberto Molina pudesse observar a situação das ossadas, entre as quais deveria estar a de seu irmão desaparecido, Flávio Carvalho Molina. Finalmente, contou aos vereadores que, agora em 1990, ainda havia terra virgem na gleba 3 do cemitério, uma área onde poderiam ser construídas novas quadras, com novas sepulturas, caso houvesse necessidade. Com alguma hesitação, tentou deixar claro que, embora não tivesse acesso a informações oficiais, não fazia sentido a tese de que a exumação em massa daquelas 1.500 ossadas seria necessária para que houvesse espaço para novas sepulturas.
— Em 1977, o cemitério já estava totalmente ocupado? — indagou o presidente da CPI.
— Não — respondeu o administrador. — O cemitério é subdividido em glebas de quadras. Ele tem as glebas 1, 2 e 3.
Toninho explicou que, ao assumir o posto, em 1977, a gleba 3 acabara de ser inaugurada. Foi ele que a dividiu em duas porções, uma destinada ao sepultamento familiar, ou seja, com o conhecimento dos familiares e as devidas homenagens, e outra destinada ao sepultamento de todos os corpos sem identificação ou que não tivessem sido buscados por ninguém: os “indigentes”, os “desconhecidos” e os “não reclamados”.
— Na gleba 3, existe ainda um canto virgem, disponível para abertura de novas valas — afirmou.
Antes de terminar seu depoimento, Toninho informou aos vereadores que o administrador do cemitério na época da construção da vala chamava-se Dilermando Lavrador. E declinou os nomes de quatro sepultadores do Dom Bosco que já trabalhavam ali em 1976: João Aparecido André, Pedro Batista Gasperi, Bráulio Araújo Miranda e Nelson Pereira. Os quatro foram intimados para depor na quarta-feira seguinte. Antes disso, na sexta-feira, os membros da CPI ouviriam o superintendente Rui Alencar, que não pôde ser ouvido na primeira sessão em razão do horário, e o ex-diretor do Departamento de Cemitérios do Município, Fábio Pereira Bueno.
***
— Esse procedimento é totalmente irregular!
A afirmação proferida por Fábio Pereira Bueno no dia 21 fez os vereadores arregalarem os olhos. Júlio decidiu cobrar os detalhes:
— O senhor disse que a exumação em massa feita em 1976 é ilegal?
— Não, a exumação não, o sepultamento na vala comum.
— É ilegal?
— No meu entendimento, é.
— Daria para depreender, dessa sua afirmação, que houve a intenção de dificultar a identificação desses cadáveres, desses restos mortais?
— Não sei, não sei — Fábio desconversou. — Não tenho conhecimento disso. Se foi intencional ou não, isso deve ser perguntado para quem executou aquilo, e por ordem de quem, e a troco de quê.
Fábio Pereira Bueno tinha dirigido o Departamento de Cemitérios da Prefeitura (Cemit) entre abril de 1970 e abril de 1974. Deixara o cargo dois anos antes, portanto, da ocultação de cadáveres na vala clandestina. Naquela época, o Serviço Funerário era uma autarquia à parte e não cuidava dos cemitérios, somente dos funerais. À frente do Serviço Funerário estava Jaime Augusto Lopes, já falecido na ocasião da CPI. Desde que o assunto havia invadido as páginas dos jornais e o noticiário das rádios e das TVs, naquele dia 4 de setembro, Fábio havia feito algumas contas e chegara à conclusão de que o sepultamento daquelas mais de mil pessoas numa vala comum tinha ocorrido em 1976, logo após a decisão de reorganizar a cadeia dos sepultamentos na cidade.
A afirmação do ex-diretor do Cemit permitia aos membros da CPI concluir que aquelas mil e tantas ossadas tinham sido exumadas majoritariamente durante a gestão do prefeito Miguel Colasuonno, no cargo entre agosto de 1973 e agosto de 1975, e ocultadas ilegalmente na vala clandestina durante o mandato de Olavo Setúbal, prefeito entre agosto de 1975 e julho de 1979.
— Repare nas fotos que exibem os sacos com as ossadas sendo retiradas da vala — alertava o aspirante a detetive. — Com o auxílio de uma lupa, vemos que há nesses sacos a inscrição SFMSP, sigla do Serviço Funerário Municipal. Isso significa que essas ossadas foram acondicionadas nesses sacos por nós, após a integração do Cemit pelo Serviço Funerário, o que se deu justamente em 1976. Antes disso, não havia esses sacos, muito menos sacos gravados com a sigla SFMSP.
Após uma hora de audiência, Fábio Pereira Bueno não apenas confirmara as irregularidades por trás do emprego de uma vala comum, de terra, para o sepultamento dos remanescentes ósseos de mais de mil pessoas, como relatara um evento do próprio Legislativo intimamente ligado àqueles fatos: uma oportuna alteração na lei municipal possibilitara a exumação naquele ano.
Quando os primeiros corpos foram enterrados em Perus, em março de 1971, a legislação estabelecia um prazo mínimo de cinco anos de permanência em sepultura individual. Somente após cinco anos, e caso nenhum familiar demonstrasse interesse em transferir os restos mortais para uma sepultura particular, seria facultado ao poder público realizar a exumação e a reinumação, para que o espaço pudesse ser ocupado por um novo caixão. Já em 22 de setembro de 1971, seis meses e vinte dias após a inauguração do Cemitério Dom Bosco, a Câmara aprovou a redução desse prazo para três anos. A lei 7.656/71 foi promulgada pelo prefeito Figueiredo Ferraz em 7 de outubro daquele ano, de modo que, em outubro de 1976, todos os corpos sepultados em Perus entre o dia da inauguração e outubro de 1973 estavam aptos à exumação compulsória.
Tudo parecia conspirar para aquela ocultação em massa: o Executivo, o Legislativo e, segundo Fábio, também o governo estadual, por meio do Instituto Médico Legal. Como?
— Naquela ocasião, quem trabalhava no Instituto Médico Legal era o Harry Shibata — lembrou. — O diretor era o Dr. Arnaldo, e o Harry Shibata, se não me falha a memória, era o subdiretor. Eu tive conhecimento em entendimento com ele, porque nós fizemos a transferência de encaminhamento dos corpos que eram sepultados na Vila Formosa e no Lajeado, em Guaianases, para o Cemitério de Perus. Diga-se de passagem, é muito mais fácil ir ao Cemitério de Perus, saindo do Instituto Médico Legal, do que ir ao Cemitério de Vila Formosa ou do Lajeado, que é em Guaianazes, porque o Cemitério de Perus está localizado no quilômetro 25 da Via Anhanguera, de fácil acesso pela Avenida Sumaré e depois a Marginal. E o Instituto Médico Legal nos solicitou, e o próprio Serviço Funerário, que pudessem encaminhar os corpos para lá.
Fábio Pereira Bueno voltaria a depor na CPI em 18 de abril do ano seguinte, na última sessão da CPI, após um recesso parlamentar que se estendeu por todo o mês de janeiro. Dessa vez, foi prestar maiores esclarecimentos sobre um dos temas mais espinhosos suscitados ao longo do inquérito: o projeto de instalar em Perus um forno crematório.
***
— Essa vala foi aberta pelas minhas mãos.
O mistério da construção da vala começou a ser solucionado no dia 26 de setembro com os depoimentos dos quatro sepultadores citados por Toninho Eustáquio. O primeiro a depor naquela manhã, Pedro Batista Gasperi, apresentou-se como operador de máquinas e revelou o que os vereadores já desconfiavam: se era ele o funcionário responsável por conduzir a retroescavadeira, então o buraco na área do cruzeiro tinha sido obra sua.
O vereador Aldo Rebelo, então relator da CPI, interpelou o operador de máquinas:
— Segundo consta, o processo normal, quando se promove uma exumação, é transferir os ossos para ossários construídos em alvenaria. Nesse caso, a vala que o senhor abriu, o senhor como operador de máquina, foi destinada a esse tipo ou foi…?
— Veja bem, essa vala foi aberta porque essas 1.500 a 1.600 ossadas já estavam havia mais de um ano na sala onde é o velório atualmente — Pedro respondeu. — Todo mundo parava para olhar.
— Por que não foi feita de alvenaria?
— Isso eu não sei dizer.
Em seguida, cada um à sua maneira, os outros sepultadores confirmaram o relato. Nelson, por exemplo, deu mais detalhes sobre o intervalo entre a exumação em massa e a reinumação na vala clandestina.
— Esses corpos ficaram por quanto tempo no velório? — Tereza Lajolo perguntou.
— Aproximadamente um ano.
— Um ano?
— É.
— E, durante esse tempo, houve uma discussão sobre o que fazer com os ossos, “para onde nós vamos levar esses corpos”?
— Se alguém ficou discutindo isso, foram os administradores, os diretores.
— E o que vocês ouviam comentar sobre a questão do destino?
— A gente ouvia poucos comentários a esse respeito.
Dilermando Lavrador, antigo administrador do Cemitério Dom Bosco, assumiu para si a responsabilidade pela exumação nas sepulturas e também pela reinumação na vala clandestina.
— Fui eu que autorizei — contou em depoimento prestado à CPI no dia 1º de novembro. — Saiu um decreto da Prefeitura dizendo que aquele cemitério passaria a vender terrenos, ou seja, que haveria concessões. Como as quadras 1 e 2 eram a melhor área do cemitério, eu simplesmente achei por bem vender aquela parte, perto da entrada. Mandei fazer as exumações. Já havia decorrido o prazo normal que a lei permitia. Identifiquei os ossos com os nomes, dentro e fora dos saquinhos, e coloquei os sacos no velório. Naquela época o velório não era usado. Os ossos ficaram lá por aproximadamente cinco meses. Como não veio família nenhuma retirar, deve ter vindo umas oito ou dez procurar pelos ossos e nós não tínhamos ossário naquele cemitério, mandei fazer uma vala e coloquei os ossos lá.
Em todas as respostas, o mesmo tom de naturalidade e inocência, como se ninguém tivesse cometido nenhuma irregularidade, como se esconder esqueletos num buraco de terra, sem qualquer registro oficial na Prefeitura nem indicação nos mapas oficiais do cemitério, fosse algo prosaico, corriqueiro e legítimo. Havia, ali, a certeza da impunidade e certo voluntarismo, como se coubesse a um administrador ou a um diretor de autarquia encontrar um “jeitinho” para resolver um problema considerado de menor importância. Nenhuma preocupação com protocolo ou com a hipótese de algum familiar vir a procurar aquelas 1.500 pessoas.
Esse descaso oficial com a memória e com a hipótese de reclamação futura daqueles restos mortais pelas famílias, por mais remota que pudesse parecer para as autoridades, ficou ainda mais evidente para os vereadores quando a CPI passou a investigar o tema do crematório.
Uma planta baixa da incorporação do Cemitério Dom Bosco, elaborada em 1969 – um ano antes do início das obras – previa a construção de um “crematório eventual”, conforme a expressão gravada no papel. No final dos anos 1960, dotar a cidade de um crematório público tornou-se uma das obsessões do Cemit, o Departamento de Cemitérios da Prefeitura.
Fábio Pereira Bueno contou à CPI que participou do processo de licitação e aquisição dos fornos entre 1967 e 1968. Ficara entre duas propostas, um sistema elétrico e outro a gás, e acabara optando pela proposta apresentada pela empresa inglesa Downson & Mason. Seriam adquiridos quatro fornos a gás, aptos a cremar um corpo no intervalo médio de uma hora. Em 24 horas, os quatro fornos dariam conta de incinerar 96 cadáveres, mais que o dobro da demanda nos anos 1960, o que também demonstrava capacidade de planejamento: a cidade estava crescendo, a população aumentaria.
Fábio afirmou ainda que Paulo Maluf, prefeito de São Paulo entre 1970 e 1971, quando da construção do cemitério em Perus, autorizou a construção do crematório. E que a medida se fazia necessária em razão do volume crescente de corpos de indigentes, desconhecidos e não reclamados enterrados em São Paulo. Alegou que se enterravam quase 50 por dia. Os membros da CPI questionaram o número apresentado por ele, uma vez que, entre 1989 e 1990, quando a população do município era maior do que em 1970, a média de sepultamentos naquelas categorias foi de oito por dia.
No início da década de 1970, o mesmo plano de construir um crematório motivou uma viagem de Fábio Pereira Bueno para a Argentina, a fim de pesquisar os fornos utilizados naqueles países e principalmente sua legislação. Outro funcionário do Cemit esteve na Inglaterra para pesquisar a legislação, uma vez que a lei paulistana não autorizava a cremação de indigentes. Se fosse para levar a cabo o projeto de cremar desconhecidos, seria preciso propor um projeto de lei para a Câmara e trabalhar pela sua aprovação.
Por fim, os vereadores localizaram nos arquivos da Prefeitura uma carta da empresa inglesa Downson & Mason, fornecedora dos fornos, declinando da execução daquele serviço. Segundo a empresa, causava estranhamento o projeto de um crematório sem sala de cerimônia, ou seja, sem um local adequado para a realização de velório. Também estranhava o uso de portas basculantes, tipo vai-vem, no acesso aos fornos. A sala de cremação, segundo os ingleses, deveria ficar sempre em local discreto e longe da vista das pessoas, uma vez que os mais sensíveis ou incautos poderiam se chocar. Havia algo de muito errado e suspeito no projeto apresentado pela Prefeitura de São Paulo.
Antes mesmo de propor alterações no projeto ou procurar outra empresa para solicitar outro orçamento, houve a confirmação pelo departamento jurídico de que a prática da cremação não poderia ser aplicada sem o consentimento ou solicitação da família. Havia tratados internacionais nesse sentido. Caía por terra, portanto, o plano de cremar indigentes, desconhecidos e não reclamados. Inaugurado na Vila Alpina em 1975, o crematório municipal não poderia ser o destino das 1.500 ossadas já exumadas em Perus. Era preciso encontrar outra forma de desaparecer com aqueles ossos.
A vala clandestina foi o plano B.
***
Ao longo de seis meses, a CPI Perus/Desaparecidos ouviu 82 pessoas em 43 sessões. Entre os depoentes, os médicos legistas Harry Shibata e Isaac Abramovich entre outros funcionários do IML, o ex-governador Abreu Sodré, policiais de diferentes corporações e patentes, como os delegados Maurício Henrique Guimarães Pereira, Álvaro Luiz Franco Pinto, Renato D’Andréa e Armando Panichi Filho, agentes ligados ao Dops, como Samuel Pereira Borba e Gilberto Alves da Cunha, e ao DOI-Codi, como Dulcílio Wanderley Bochila e o agente Davi dos Santos Araújo, acusado de praticar torturas, inclusive contra Ivan Seixas e Amelinha Teles, ambos na plateia. De tanto ouvir o tal agente do DOI-Codi negar as acusações que lhe foram feitas, o vereador Ítalo Cardoso perguntou se Amelinha e Ivan topariam um acareamento com ele. Foi o início de uma das cenas mais exaltadas da CPI.
— Senhora Maria Amélia Teles, a senhora conhece este homem?
— Claro que conheço. Este é o Davi dos Santos Araújo, que usava o codinome de Capitão Lisboa quando me torturou.
— Mentira! — o delegado respondeu, exaltando-se. — Nunca torturei mulher feia.
— Então o senhor admite que torturava mulher bonita?
— Não vou responder isso. Não vou responder isso.
Minutos depois, Ivan Seixas repetiu a mesma apresentação de Amelinha.
— Conheço, sim. Este é o Capitão Lisboa do DOI-Codi.
— Ele está mentindo. Eu nunca vi essa pessoa.
— Claro que me conhece, David. Quando a gente chegou à Oban, vocês fizeram uma sessão de espancamento em mim e no meu pai. Mas eu dei um soco na tua cara que lançou você longe, a dois metros de distância, você não se lembra disso?
Exposto e atingido em seus brios, o Capitão Lisboa ficou nervoso.
— É mentira! Eu não participei desse espancamento — como acabara de acontecer com Amelinha, a frase do policial permitia a leitura de que ele havia participado de outros espancamentos. — O pai dele eu conheci. Era um sujeito forte, nortista, que andava com o Lamarca. Mas ele eu nunca vi.
— Conversa, Davi — Ivan insistia. — Se você conheceu meu pai, você me conheceu também. Nós chegamos juntos à Rua Tutóia. Você não está querendo admitir por ter levado um soco na cara de um rapaz de 16 anos.
A esta altura, o depoente já havia perdido as estribeiras e, inquirido pelos vereadores, perdera a capacidade de argumentar.
— Não vou responder. Não vou responder.
Até Erasmo Dias, Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo no momento da construção da vala clandestina e responsável por comandar a controversa invasão da PUC-SP de 1977, quando centenas de estudantes foram expulsos de uma assembleia sob golpes de cassetetes e bombas de gás lacrimogênio, e presos em seguida, compareceu à Câmara para a oitiva.
Quem mais resistiu a depor foi o ex-prefeito Paulo Maluf, que governara a cidade pela primeira vez no período de construção e inauguração do cemitério, entre 1970 e 1971. Quando a vala foi aberta, em 4 de setembro, Maluf estava imerso na campanha eleitoral daquele ano, percorrendo meia dúzia de cidades por dia. Uma pesquisa feita pelo Datafolha entre os dias 17 e 19 de setembro colocou Maluf em primeiro lugar na disputa pelo governo do Estado, com 41% dos votos, o dobro do percentual atribuído a Luiz Antônio Fleury, o candidato da situação, com 20%. Às intimações enviadas a seu endereço, Maluf respondia sempre que não se opunha a depor, mas que só o faria após a eleição. Derrotado no segundo turno, Maluf finalmente concordou em marcar a oitiva para o dia 4 de fevereiro. Com uma condição: ele aceitaria falar em sua própria casa, e não na Câmara.
Os membros se dividiram. Um deles, o vereador Oswaldo Gianotti, filiado ao partido de Maluf, o PDS, insistia para que a condição colocada pelo ex-prefeito fosse acatada. O local não muda nada, ele dizia. Tereza e Ítalo, por sua vez, consideravam aquilo inaceitável. Maluf não exercia nenhum cargo público na ocasião, não tinha fórum privilegiado, por que essa regalia? Sugeriram apelar para a condução coercitiva. No fim, Júlio concordou em ouvi-lo em casa, na Rua Costa Rica, 146. E foi. Os dois vereadores do PT membros da comissão acharam um desaforo e não compareceram. Ivan Seixas, Amelinha Teles e Crimeia Schmidt, irmã de Amelinha, foram à casa de Maluf representando os familiares. Os três se recusaram a dar a mão ao ex-prefeito, o que rendeu outro momento fora da curva na história da CPI.
— Não vou dar a mão para o senhor. O senhor foi parte da ditadura.
— Lamentável, lamentável — reagiu o político, com o sotaque que lhe é característico. — Eu fiz até oposição à ditadura. Vocês são radicais.
Por fim, ainda no curso da CPI, os vereadores da Comissão lograram descobrir e visitar, sempre na companhia de familiares de mortos e desaparecidos, o Sítio 31 de Março de 1964, uma chácara no distrito de Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo, dedicado à tortura e à execução de opositores políticos nos anos de chumbo. A revelação do local, frequentado por membros da repressão como os coronéis Erasmo Dias e Carlos Alberto Brilhante Ustra, ganhou destaque na imprensa e ajudou a aumentar o clima de indignação. Ali foram executados, entre outros, os militantes da ALN Antônio Benetazzo, Antônio Carlos Bicalho Lana e Sônia Moraes Angel Jones, todos eles enterrados sem conhecimento das famílias no cemitério de Perus.
Em 15 de maio de 1991, uma quarta-feira, foi feita a apresentação pública dos resultados da CPI. O relatório final foi encaminhado para a Prefeitura e para o governo do Estado. O processo, na íntegra, somava 6.142 páginas, entre transcrições dos depoimentos, cartas, intimações, cópias de reportagens, exames necroscópicos e outros documentos. Foi tudo arquivado na Câmara em 19 volumes. Em 4 de setembro de 1992, aniversário de dois anos da revelação da vala, o relatório final foi finalmente publicado: um caderno de 64 páginas com o título Onde estão?.
Integram o relatório final da CPI uma lista com quinze recomendações. À prefeita Luiza Erundina foi solicitada a apuração das responsabilidades pelos atos administrativos irregulares de funcionários municipais e a consolidação das leis que se referem aos sepultamentos no município, sobretudo de indigentes. Ao governador Luiz Antônio Fleury Filho, que se reorganizasse o IML, retirando-o da esfera policial, e que seja dada continuidade às investigações iniciadas no Sítio 31 de Março, entre outras. Ao presidente da República, Fernando Collor de Mello, a Comissão solicitou a abertura dos arquivos do Dops, do SNI e do DOI-Codi. Ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo foi pedida a instauração de sindicância para apurar a responsabilidade dos legistas pelas irregularidades ocorridas no IML. Outros ofícios foram enviados à Procuradoria Geral da República, ao Ministério Público Federal de São Paulo, ao Ministério da Justiça e ao presidente da Assembleia Legislativa, sempre com solicitações para que fossem tomadas as providências cabíveis ou para que fossem aprofundadas as investigações.
Duas décadas mais tarde, a CPI de Perus foi frequentemente lembrada como precursora das Comissões da Verdade instaladas no Brasil ao longo da década de 2010. Em apenas seis meses, reuniu provas, testemunhos e encaminhamentos importantes, não apenas para desvendar as origens e os envolvidos na construção da vala clandestina, mas também para propor medidas mitigadoras e formas de dar seguimento às investigações, responsabilizações e identificações necessárias.
***
Na última semana de 1992, o Cemitério Dom Bosco ganhou um marco de memória em homenagem aos desaparecidos políticos ali ocultados. No exato local onde a vala clandestina fora construída, surgiu uma nova vala, feita com alvenaria. Sobreposto a ela, um muro vermelho, como uma tarja de “proibido”, “nunca mais”.
O memorial foi desenhado pelo arquiteto e artista gráfico Ricardo Ohtake. Filho da pintora e gravurista Tomie Ohtake, Ricardo tinha ligações afetivas com o tema da memória. Antonio Benetazzo, um dos desaparecidos políticos enterrados como indigente no cemitério de Perus, tinha sido seu melhor amigo nos tempos de estudante universitário, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ricardo também foi membro da Associação Cultural José Marti, organizando atividades culturais com artistas cubanos no Brasil. Teve ano em que ele chegou a ir cinco vezes para Havana.
Mas foi quase por acaso que Ricardo Ohtake assumiu a autoria do monumento. Ainda em 1991, no segundo semestre, a Prefeitura havia aberto um edital e selecionado um projeto para ser executado no local. Quando estava quase tudo pronto para a construção, em meados de 1992, os organizadores perceberam que havia um monumento idêntico àquele em outro país. O concurso teve de ser cancelado.
Agora, faltando três meses para o fim do mandato da prefeita, já não havia tempo para um novo concurso.
— Só se a gente pedir pro Ricardo — alguém lembrou.
Um ano antes, a militante e ex-presa política Dulce Maia havia sugerido o nome de Ricardo Ohtake para a elaboração de um cartaz de divulgação de uma missa que o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, faria na Sé em homenagem aos desaparecidos da vala e às primeiras identificações. Foi formada uma comitiva de familiares até o estúdio do designer. Suzana, Ivan, Amelinha, Crimeia e Dulce o convenceram a fazer o cartaz. Agora, voltariam a ele com um novo pedido.
— Dá pra fazer — Ricardo topou. — Vou pensar em algo na mesma linha do cartaz.
Os familiares explicaram que faltava dinheiro, de modo que seria preciso fazer algo muito simples e que usasse materiais acessíveis. Cimento e tinta, Ricardo pensou. Dois meses depois, os pedreiros da própria Prefeitura erguerem o marco sob a orientação do arquiteto. Ivan Seixas aprovou o texto com a prefeita e ditou para Ricardo pelo telefone:
“Aqui, os ditadores tentaram esconder os desaparecidos políticos, as vítimas da fome, da violência do Estado policial, dos esquadrões da morte e, sobretudo, os direitos dos cidadãos pobres da cidade de São Paulo. Fica registrado que os crimes contra a liberdade serão sempre descobertos.”
A inscrição, em letras brancas sobre o muro vermelho, foi assinada por Luiza Erundina de Sousa e Comissão de Familiares de Presos Políticos Desaparecidos.
O monumento ficou pronto entre o Natal e o Ano Novo.
Leia no próximo capítulo: As ossadas começam a ser analisadas em Campinas. Dois militantes desaparecidos são identificados. Falta dinheiro e elementos comprobatórios para as novas identificações. O médico legista Badan Palhares é acusado de negligência e falsidade. Os ossos correm risco de submergir ou se desmanchar.