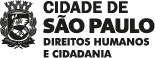Quem cala sobre teu corpo
consente na tua morte
talhada a ferro e fogo
nas profundezas do corte
que a bala riscou no peito.
(…)
Quem grita vive contigo.Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, em “Menino”
Iara desembarcou no Aeroporto Santos Dumont em 14 de maio de 1979. O filho de 5 anos agarrado à mão, a filha de 2 abraçada ao pescoço. Quatro horas de atraso haviam deixado todos cansados. O voo, de Roma, fora desviado para Viracopos, em Campinas, porque não havia teto para pousar no Rio de Janeiro. Foi preciso transferir os passageiros para aviões menores e esperar o tempo melhorar.
Iara Xavier Pereira voltava ao Brasil após seis anos no exílio. Primeiro Chile, depois Cuba, e por fim a Itália. A longa temporada no exterior chegara ao final quando seu sogro telefonara no mês anterior para avisar que seu processo havia transitado em julgado e ela estava livre. Não precisaria sequer esperar a anistia.
A família de Iara era toda formada por militantes políticos. A mãe, o pai, os dois irmãos e o marido integravam a Ação Libertadora Nacional, a ALN, organização fundada em 1968 por Carlos Marighella. Quando seus irmãos Iuri e Alex foram torturados até a morte, em 1972, Iara estava na clandestinidade e seus pais, no exílio. Menos de um ano depois, em março de 1973, a repressão mataria seu marido, Arnaldo. Iara estava grávida e precisou deixar o país. Agora, seis anos depois, ela poderia finalmente voltar.
Vinha insegura, com a pulga atrás da orelha. Talvez fosse mais prudente continuar na Itália. Ou se mudar para a França, como planejava até o sogro trazer boas notícias. Antes de arrumar as malas, Iara consultara sua advogada, Eny Moreira, uma das mais destacadas defensoras de presos políticos, associada ao escritório de Sobral Pinto e, desde 1978, presidente-fundadora do Comitê Brasileiro pela Anistia. Eny confirmara que não havia mais nenhuma pendência judicial contra ela. Por via das dúvidas, a esperaria no aeroporto.
A viagem longa e as quatro horas de atraso não impediram dois agentes da imigração de barrarem a passageira quando ela já estava quase pisando do lado de fora.
— A senhora é Iara Xavier Pereira?
— Pois não.
— Venha comigo.
Eny precisou intervir, acompanhada pelo deputado estadual José Eudes, do MDB, para convencer o delegado de plantão a adiar o depoimento de sua cliente para o dia seguinte. Iara se comprometeu a ir ao Dops. Quando finalmente chegou à área comum do terminal, ladeada pelo deputado e pela advogada, Iara foi abordada por um repórter do Jornal do Brasil:
— Iara, Iara, você tem acompanhado as notícias? O que você espera encontrar na volta ao Brasil?
— O que eu espero encontrar? Bem, eu espero encontrar o local onde enterraram meus irmãos, Iuri e Alex, que foram assassinados pela repressão e estão desaparecidos.
A advogada ficou de cabelo em pé.
— Pelo amor de Deus, Iara, como você fala isso? Não fala nada de militância, por favor. Vamos com calma.
Era preciso prudência. Arnaldo, o marido de Iara morto pela repressão em 1973, era acusado de ter participado do assassinato de Otavinho, braço direito do delegado Sérgio Paranhos Fleury na condução do Dops de São Paulo. Qualquer provocação poderia suscitar tentativas de vingança. Não tinham matado a estilista Zuzu Angel, conhecida mundo afora, num acidente de carro no Rio?
Além de Eny e do deputado José Eudes, havia alguns familiares à espera de Iara. Eles se dividem. Iara entra com as crianças no carro de uma cunhada. Arnaldinho, aos 5 anos, estava tranquilo, mas cansado. Aninha, aos 2 anos, irritada com tantas mudanças: o fuso, a noite inteira no voo, o novo idioma. Tia Irene entrou no carro em seguida.
— Iara, você não vai ter que procurar ninguém — tia Irene afirmou, de supetão, no trajeto até a Gávea. — Eu encontrei os meninos. Não te mandei uma carta contando?
Iara ficou sem palavras. Tia Irene era irmã de sua mãe. Diferentemente de Zilda, no entanto, Irene não exercia atividade política nem vivera na clandestinidade.
— Você encontrou? — arregalou os olhos. — Eu nunca soube. Não chegou carta nenhuma. Como foi isso?
— Olha, dava um filme — disse a tia. — O Iuri até que foi fácil. Mas o Alex…
Apenas mais tarde, quando chegaram em casa e as crianças foram dormir, Tia Irene pôde contar seu périplo. Entre 1972 e 1973, após a morte dos sobrinhos, ela havia visitado mais de um cemitério em São Paulo à procura dos “meninos”. Esteve no Vila Formosa, no Lajeado e também em cemitérios mais centrais, sem tradição de acolher indigentes, como os cemitério da Consolação e o Araçá. E nada.
— Eu ia, chorava, apelava, e os homens nem para abrir o livro preto —, dizia, referindo-se ao livro de registros. — Eu não achava, não achava.
Acabou encontrando por acaso. Em dezembro de 1973, Tia Irene perdeu o marido, um imigrante húngaro, uns vinte anos mais velho que ela. Antes de morrer, seu marido havia adquirido uma sepultura num cemitério que acabara de ser inaugurado, dois anos antes, na saída de São Paulo para Campinas. No dia do funeral, Tia Irene se deu conta de que naquele cemitério ela nunca havia estado. Muito menos perguntado sobre os sobrinhos por lá. Sepultou o marido no dia 9 de dezembro e retornou no dia seguinte para providenciar a instalação de uma placa de memória com o nome dele. Como precisou se reunir com o administrador para acertar a burocracia, aproveitou para perguntar a ele sobre os sobrinhos, da mesma forma que havia feito nos demais cemitérios. Dizia que eles eram estudantes, que tinham 22 e 23 anos, “uns meninos bons”. Talvez porque fosse um cemitério novo, ainda sem os vícios dos demais, o administrador lhe pareceu mais solícito. Anotou os nomes e as datas das mortes e voltou com dois livros de capa preta.
— O nome do Iuri estava no livro de 1972, na parte dedicada à letra I — Irene contava para a sobrinha. — O do Alex, não.
Dos dois irmãos, Alex foi o primeiro a morrer, em 20 de janeiro de 1972. Foi assassinado sob tortura, junto com Gelson Reicher, estudante de medicina e seu companheiro na ALN. A versão oficial, divulgada nos jornais dois dias depois, dava conta de que Alex e Gelson morreram em confronto com a polícia. Haviam resistido à voz de prisão e disparado contra policiais. Alex tinha 22 anos. Como não havia quem reclamasse o corpo – os pais no exílio e os irmãos na clandestinidade –, seu corpo foi enterrado no Cemitério Dom Bosco como “não reclamado”. Em 14 de junho, menos de cinco meses depois, foi capturado seu irmão Iuri, de 23 anos, em situação semelhante, acompanhado por dois colegas de organização, Ana Maria e Marcos Nonato. Desta vez, a notícia da morte demorou a chegar. Não havia sequer uma versão falsa circulando na imprensa, sinal de que ele havia “caído” e estaria sofrendo tortura em algum lugar de São Paulo. Iuri passou seis dias no DOI-Codi, na Rua Tutóia, até que, no dia 20, seu corpo deu entrada no IML.
Localizado o registro do sepultamento de Iuri, Tia Irene manda colocar uma lápide de mármore no local onde ele havia sido enterrado. Passou a frequentar aquele cemitério com relativa frequência. Ia sempre às duas sepulturas, a do marido e a do sobrinho, nos aniversários, no dia de Finados… Higienizava as placas, levava flores. E volta e meia insistia com algum funcionário sobre o paradeiro do outro rapaz.
— Era um menino, um estudante — ela repetia, e voltava a chorar. — Tinha 22 anos.
Quase três anos se passaram até que, no final de 1976, o novo administrador do cemitério, recém-chegado a Perus, ouviu a mesma ladainha e quis ajudar.
— Minha senhora, será que não há uma confusão de data? Não foi um ano antes ou um ano depois?
“Pessoas de idade são assim, podem se confundir”, Toninho pensou. Mas Tia Irene tinha certeza da data.
— É claro que eu tenho certeza.
— A senhora tem a certidão de óbito?
— Não tenho. Mas saiu no jornal. Eu tenho o recorte.
— Então faz assim — Toninho sugeriu. — Traz esse jornal para a gente dar uma olhada.
Quando Tia Irene voltou, exibiu o recorte da matéria publicada no Estadão como um trunfo.
— Olha aqui. A reportagem é do dia 22 de janeiro de 1972, não falei?
A nota trazia a versão oficial divulgada pela Secretaria de Segurança Pública, acusando Alex de ter resistido à prisão e disparado contra os agentes. Toninho leu a nota e chamou a atenção de Irene para um detalhe:
— Dona Irene, aqui diz que na ocasião foram mortos Gelson Reicher, que usava o nome falso de Emiliano Sessa, e Alex Xavier Pereira, que usava o nome falso de João Maria de Freitas.
— Imagina, nome falso — Tia Irene respondeu. — Isso é coisa da polícia. O nome dele era Alex, mesmo.
Toninho se fez de desentendido e propôs:
— Bom, já que a senhora está aqui, vamos pesquisar por este nome também?
Bingo! No livro de 1972, havia o registro de entrada do corpo de João Maria de Freitas. Desde então, Tia Irene rezava e levava flores também para aquela sepultura.
De volta à Gávea, em 1979, aquela informação eclodiu como uma epifania aos ouvidos já cansados de Iara, em sua primeira noite no Brasil.
— Filhos da puta, eles enterraram com os nomes falsos!
Até aquele momento, familiares de desaparecidos não tinham feito buscas pelos codinomes. A maioria sequer sabia a identidade utilizada por seus filhos e filhas na luta armada. Da mesma maneira que a tática da guerrilha orientava os militantes a jamais contar seus nomes de batismo nem sua origem aos companheiros de organização, tampouco seus familiares ficavam sabendo seus codinomes ou as atividades que desempenhavam na clandestinidade. Iara ainda nem havia se ambientado com o Rio de Janeiro e já queria ir a São Paulo. Precisava visitar o cemitério de Perus.
Já era quase meia-noite quando Iara telefonou para Suzana Keniger Lisbôa. Suzana também tinha militado na ALN e, desde que saíra da clandestinidade, no ano anterior, integrava a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, em formação. Seu marido, Luiz Eurico Tejera Lisbôa, havia desaparecido em 1972 sem deixar laudo no IML nem notícia falsa de “confronto” com a polícia. Oficialmente, não havia nada que indicasse que Luiz Eurico poderia estar morto. Suzana havia se estabelecido novamente no Rio Grande do Sul e tinha voltado a estudar quando foi convidada a fazer parte do Comitê Brasileiro pela Anistia. Por meio de Eny, soube que Iara estava prestes a desembarcar no Brasil e deixou seu telefone: era para Iara ligar quando chegasse. Iara esperou que Suzana falasse e, em seguida, expôs sua aflição:
— A gente precisa se encontrar — Iara falou. — Tenho uma novidade importante. Você pode vir para o Rio?
Suzana não podia viajar naquele momento e propôs que esperassem até meados de junho, quando haveria o 3º Encontro Nacional dos Movimentos de Anistia, no Colégio Metodista Bennett, no Rio.
Foram três dias de seminários e reuniões, de 15 a 17 de junho. Trinta e nove entidades em favor de uma anistia ampla, geral e irrestrita estavam ali representadas, debatendo estratégias de divulgação, popularização da pauta e elaboração de propostas a fim de confrontar o projeto oficial elaborado pelo Poder Executivo, previsto para ser entregue na Câmara dos Deputados dali a um mês. Mesmo assim, Iara não conseguia se concentrar na programação. A jornada havia perdido a graça. Ela só conseguia pensar na revelação feita por Tia Irene. Se as suspeitas dela se comprovassem, estaria configurada uma forma peculiar e perversa de desaparecimento: a opção deliberada por registrar o morto com o nome de guerra, mesmo quando o nome verdadeiro era do conhecimento do IML, de modo a dificultar sua localização pelos familiares.
Iara estava decidida a encontrar esses corpos, não por motivo espiritual ou religioso, mas para lhes dar uma sepultura digna e, principalmente, exigir justiça. Ela achava, mais por intuição do que por conhecimento científico, que os ossos de seus irmãos poderiam dar alguma pista sobre a forma como foram mortos. Pelo menos para confrontar a versão oficial divulgada por seus algozes. Se o aparato repressivo montava teatrinhos para forjar um suicídio ou um atropelamento, e os documentos do IML tinham sido igualmente falseados, talvez os restos mortais preservassem a memória da violência de Estado perpetrada contra suas vítimas. Os ossos falariam!
Assim que Suzana desembarcou no Rio, Iara contou a ela a descoberta de sua tia. Combinaram de ir para São Paulo assim que aquele encontro terminasse. Ivan, que dois anos antes havia localizado em Perus os restos mortais de seu pai, Joaquim Alencar de Seixas, iria junto. Sérgio Xavier Ferreira, primo do desaparecido Carlos Alberto de Freitas, da VAR-Palmares, também. Assim, poderiam ajudar e se proteger uns aos outros.
— Se você estiver certa, vou encontrar o Ico lá — Suzana comentou com Iara, ansiosa. — Eu sei o nome que ele usava na clandestinidade.
***
O Cemitério Dom Bosco foi inaugurado no dia 2 de março de 1971. Não houve fita cortada nem discurso de inauguração. Somente o sepultamento de um primeiro grupo de corpos encaminhado pelo Instituto Médico Legal.
Desde o primeiro dia, os cadáveres enviados ao cemitério de Perus tinham em comum uma desconcertante condição de abandono. Antes que as primeiras famílias da região pudessem fazer uso de suas sepulturas, o Dom Bosco foi escolhido como destino preferencial de todos os mortos que chegassem ao IML sem identificação ou que não fossem reclamados por nenhum parente no prazo de 72 horas.
Classificados como “desconhecidos” ou “não reclamados”, eram todos sepultados em uma cova comum, sem lápide ou memorial. Igual destino tinham as vítimas da fome e da extrema pobreza recolhidos nas madrugadas frias de São Paulo, nas ruas, nos albergues, nas favelas, tratados na época como “indigentes”. Até então, indigentes, desconhecidos e não-reclamados tinham como destino preferencial o cemitério de Vila Formosa, na Zona Leste. A partir de março de 1971, aquele cemitério novinho, amplo e deserto, assumiu a responsabilidade de hospedar corpos encaminhados pelo IML e pelo Serviço de Verificação de Óbito da USP, responsável pelo encaminhamento das vítimas de mortes não violentas.
Um cemitério no bairro era uma reivindicação antiga dos moradores de Perus. Desde meados dos anos 1940, petições e protestos eram elaborados com relativa frequência pela gente do bairro, na esperança de conseguir junto à Prefeitura a construção de um cemitério onde a população local pudesse enterrar seus mortos. Tinham razão ao reivindicar. Os cemitérios municipais – e, portanto, gratuitos – mais próximos ficavam a mais de 15 quilômetros, um na Freguesia do Ó e outro na Lapa. Para o morador de Perus, era mais fácil ir ao cemitério de Caieiras do que a qualquer um dos cemitérios paulistanos. Mas Caieiras era outro município, ou seja, suas sepulturas mantinham-se inacessíveis aos habitantes do bairro.
Distante 32 quilômetros da Praça da Sé, no meio do caminho para Jundiaí, Perus ficava de tal forma apartado do noticiário e da vida cotidiana da cidade que, para muitos, tratava-se de outro município, como Caieiras, Cajamar ou Franco da Rocha. Talvez por isso tenha virado hábito entre os peruenses referir-se à capital como se fosse outro município. “Eu trabalho em São Paulo, mas moro aqui”, dizia a moça. “Amanhã, logo cedo, vou pegar o trem pra São Paulo”, dizia o moço. Nos jornais, nas raras vezes em que surgia algo sobre o bairro, havia sempre um redator incauto para cometer deslizes como “em Perus, a 30 quilômetros de São Paulo”, reforçando o senso comum de que havia uma fronteira entre a capital e o distrito.
Para quem olha o mapa da cidade e enxerga nele o perfil de uma cabeça de cachorro com o focinho apontando para o leste, Perus fica bem no topo de uma das orelhas. A outra orelha é o Tremembé.
A verdade é que tudo era longe demais para os moradores de Perus em 1970. Apenas duas coisas pareciam demasiadamente próximas: uma fábrica de cimento e um lixão. A poluição emanada das chaminés da fábrica, o pó de cimento que cobria as casas, associadas às péssimas condições de trabalho impostas pelo “mau patrão” J. J. Abdalla, que não fazia manutenção dos equipamentos nem recolhia os impostos devidos, motivou os funcionários da Companhia de Cimento Portland Perus a decretar uma greve que se estendeu por sete anos, de 1962 a 1969. Um recorde.
Na ocasião, foi o jornal O Estado de S. Paulo que impingiu nele o apelido de “mau patrão”, uma deferência às avessas para com o controvertido industrial que adquirira a Portland em 1951, quando era Secretário do Trabalho do governador Adhemar de Barros, ao qual se fixou o bordão “rouba, mas faz”.
O levante de trabalhadores ficou conhecido como movimento dos queixadas, uma referência aos porcos-do-mato que, sob ameaça, unem-se ao menor sinal de perigo para reagirem em grupo. No final, sua militância resultou na intervenção do Governo Federal na fábrica de cimento, em 1975, e em seu fechamento definitivo, em 1987, quando os antigos funcionários foram indenizados. O movimento dos queixadas também daria régua e compasso para que um novo ativismo surgisse ali, conseguindo o encerramento das atividades no lixão e sua conversão em usina termelétrica a partir de 2007.
O início da colonização de Perus remetia ao século XVIII, quando se formou próximo à confluência do Ribeirão Perus com o Rio Juquery um local de pouso para os tropeiros que se aventuravam rumo ao interior. Diz a lenda que havia por ali uma senhora que criava perus e os preparava na panela, sob encomenda. Até que o nome pegou. “Vamos pousar ali nos perus”, diziam os tropeiros antes de avançar rumo a Jundiaí ou Campinas.
O Cemitério Dom Bosco foi uma obra de Paulo Maluf. Quarta opção na lista apresentada pelo governador Abreu Sodré para o então presidente Costa e Silva, Maluf foi escolhido pelo general para assumir o cargo e tomou posse em 8 de abril de 1969, numa época em que os prefeitos eram biônicos, indicados pelos militares. À frente da fábrica de pisos Eucatex, Maluf ocupava a presidência da Caixa na ocasião. Ficou dois anos como prefeito, até ser substituído pelo também engenheiro Figueiredo Ferraz, indicado pelo governador Laudo Natel. Foi o suficiente para construir o cemitério de Perus e também o Minhocão – uma via elevada com mais de três quilômetros de pista dupla que desempenhou papel fundamental na degradação do centro de São Paulo.
Um primeiro estranhamento que surgiu durante a construção do cemitério foi a péssima localização. Até o cemitério de Perus ficava longe de Perus! Enquanto o centro do bairro orbitava a estação de trem, era preciso caminhar por mais de dois quilômetros pela Estrada do Pinheirinho para chegar ao cemitério, um percurso cumprido em chão de terra, não urbanizado, que tornava especialmente difícil o acesso ao local. Moradores estranharam a desapropriação daquele terreno. Em Caieiras e em Jundiaí, os cemitérios ficavam em áreas centrais. Ali, não. A Prefeitura havia escolhido um local ermo e isolado, essencialmente rural, para transformar no cemitério de Perus. Uma área com relevo acidentado, com poucas casas e nenhum estabelecimento comercial em volta.
Concluída a terraplanagem e o projeto de incorporação das glebas e quadras, em poucos meses ficaram prontas as salas de velório e administração. Maluf fez questão de acelerar os trabalhos nos últimos meses para inaugurar antes de partir. Havia algo de estratégico naquele gesto, principalmente para um político de sua envergadura, que não escondia o desejo de chegar ao governo do Estado e à Presidência da República sob o beneplácito e as bênçãos dos militares.
A novidade recebeu o nome de Cemitério Dom Bosco em homenagem a um padre italiano, canonizado em abril de 1934, que o Papa Pio XI nomearia “padroeiro dos jovens”, “pai e mestre da juventude”. Uma ironia e tanto.
***
Não era a primeira vez que Ivan Seixas visitava aquele cemitério. Sua história com Perus era antiga, remetia ao início da década.
Ivan tinha 16 anos de idade quando foi preso e levado ao DOI-Codi, em 16 de abril de 1971, junto com o pai, Joaquim Alencar de Seixas. Pai e filho militavam no Movimento Revolucionário Tiradentes, o MRT. Na véspera de sua prisão, o MRT, numa ação conjunta com a ALN, tinha sido responsável pela morte do empresário Albert Henning Boilesen, presidente da Ultragás e financiador contumaz do aparato repressivo. Entusiasta da violência praticada contra os oponentes da ditadura, Boilesen costumava assistir a sessões de tortura na Operação Bandeirantes, a Oban, e manteve a frequência quando aquele centro semiclandestino de repressão foi institucionalizado por meio do DOI-Codi, agora um órgão oficial, fundado no mesmo endereço em setembro de 1970.
Boilesen ia à Rua Tutóia, na Vila Mariana, como quem vai ao cinema. Chegou a doar um aparelho de aplicação de choques a fim de melhor equipar aquele local, que seu comandante, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, apelidara de sucursal do inferno. “Henning Boilesen foi justiçado”, dizia o manifesto assinado por MRT e ALN e deixado ao lado do corpo do empresário na Alameda Casa Branca. “(Agora) não pode mais fiscalizar pessoalmente as torturas e assassinatos na Oban, nem oferecer banquetes aos altos oficiais das forças armadas brasileira, que comandam o terror e a opressão de que é vítima o povo brasileiro desde 31 de março de 1964”.
Aquilo foi o estopim de um sentimento incontrolável de vingança por parte do órgão de repressão. Menos de 24 horas depois, Joaquim e Ivan foram localizados e levados para o DOI-Codi. Pouco depois, sequestraram também a mulher de Joaquim, Fanny, e as duas filhas, Ieda e Iara. Na madrugada de 16 para 17 de abril, enquanto Joaquim era brutalizado na Rua Tutóia, uma equipe de agentes levou Ivan para um matagal com a promessa de que ele seria fuzilado, uma forma de intimidação. No percurso de volta ao DOI-Codi, logo cedo, os agentes pararam numa padaria para tomar café. Sem sair da viatura, Ivan conseguiu ler, na capa de um grande jornal pendurado numa banca, a notícia da morte de seu pai. Segundo a nota, o terrorista Joaquim tinha sido abatido com sete tiros no dia anterior, após resistir à voz de prisão e abrir fogo contra a polícia. Era mentira. Joaquim estava vivo, como Ivan pôde constatar minutos depois, ao ingressar novamente do DOI-Codi.
Joaquim morreria naquela noite. Como o exame necroscópico já estava pronto antes mesmo de sua morte, o corpo de Joaquim foi encaminhado diretamente para o Cemitério Dom Bosco e enterrado no dia 19 de abril, de tal sorte que Joaquim se tornou o primeiro preso político enterrado em Perus, apenas 37 dias após a inauguração. Seu sepultamento foi registrado no livro dos indigentes, uma vez que nenhum parente foi ao IML para reivindicá-lo: a mulher e os três filhos estavam presos e incomunicáveis.
Um ano e meio depois, no final de 1972, a mãe e as irmãs de Ivan foram soltas e puderam finalmente procurar pelo corpo de Joaquim. Ivan permaneceria preso até 1976, passando por quatro presídios diferentes.
Fanny, Iara e Ieda localizaram sem maiores dificuldades o local em que Joaquim fora enterrado. Devido ao teatrinho montado pela repressão, não havia motivos para ocultar aquele guerrilheiro. Aos olhos da sociedade, graças à ajuda da imprensa, havia morrido um perigoso terrorista, que ousara resistir à voz de prisão abrindo fogo contra a polícia, numa operação em que o morto era o culpado e os policiais eram as vítimas. Localizada a sepultura de Joaquim e o registro de sua entrada no livro de não-reclamados, as três voltaram outras vezes ao cemitério. Levavam flores, arrumavam a sepultura. Quase sempre, eram seguidas e ameaçadas por agentes à paisana no longo trajeto entre a estação e o cemitério, pela Estrada do Pinheirinho. A mãe contava os detalhes ao filho quando ia visitá-lo na cadeia. Às vezes, desabava, aos prantos. Em uma das ocasiões, um sujeito parou a seu lado enquanto ela visitava a sepultura.
— Veio visitar esse comunista de merda? — disse o estranho. — Essa sepultura aqui do lado nós reservamos para o seu filhinho, viu? Nós vamos matar ele e enterrar ao lado do papai. Dois terroristas filhos da puta.
Aos poucos, as visitas ao cemitério fizeram com que Fanny e as filhas criassem um vínculo com os sepultadores. Conversa vai, conversa vem, revelações começaram a ser feitas. “Chegou mais um estudante”, contava um. “Olha, dona, teve um aí que chegou todo destruído”, dizia outro.
No início de 1973, o enterro de Alexandre Vannucchi Leme não passou despercebido. “Esse estudante que apareceu no jornal foi enterrado aqui”, disseram. “Trouxeram o corpo quase de noite. Deu pra ver que ele estava todo arrebentado. Aí jogaram cal em cima, provavelmente para dissolver”.
Alexandre cursava geologia e militava na ALN quando foi assassinado sob tortura, em 17 de março de 1973. Quando seus pais obtiveram o atestado de óbito, elaborado com informações falsas, Alexandre já tinha sido sepultado, na quadra dos indigentes, uma vez que o corpo não havia sido reclamado nas 72 horas que sucederam à morte. A própria notícia de sua morte, atribuída a um atropelamento que jamais existiu, fora divulgada pelas autoridades e publicada nos jornais apenas quatro dias após o sepultamento. Tudo conforme o script.
Quando finalmente foi solto, Ivan quis ir o cemitério de Perus com o pretexto de visitar o túmulo do pai. Ele sabia que Joaquim não estava mais lá. Ainda em 1974, os próprios sepultadores tinham convencido suas irmãs a exumar o corpo do marido e transferi-lo para outro cemitério, o que foi feito em 1975.
— É melhor vocês levarem o Joaquim — diziam. — Daqui a pouco vai vencer o prazo para a exumação e vão misturar todos esses ossos num buraco só. Ou tocar fogo em tudo. Vocês vão acabar perdendo o pai de vocês.
No cemitério, Ivan conferiu a localização de outros guerrilheiros e, com a ajuda de Toninho Eustáquio, pesquisou os livros. Pediu para ver o livro de 1971 na letra D.
Dênis Casemiro era amigo de seu pai e companheiro de organização. Morrera um dia depois de Joaquim, caçado sem descanso e torturado com especial violência por ter participado da execução de Boilesen. Dênis Casemiro também estava lá, registrado com o nome verdadeiro. Ivan notou uma coisa que o deixou desconfiado. O corpo de Dênis tinha sido registrado no livro como se fosse de um sujeito de 40 anos. Na verdade, Dênis tinha 25 anos quando foi morto. Não bastasse o erro, deliberado ou não, Ivan notou ainda que seus restos mortais haviam sido exumados da sepultura original. E, estranhamente, nada constava sobre o destino daquelas ossadas. Pela primeira vez, ouviu falar sobre a possibilidade de haver ali uma vala clandestina. Nela, Dênis não estaria sozinho.
***
Toninho lembrou-se de Ivan, que anos antes havia se interessado pelo sumiço daquele Dênis, irmão de outro desaparecido. Também disse se recordar de Dona Irene, a tia de Iara, e de como haviam encontrado a sepultura do jovem Alex, registrado com nome falso em 1972. O administrador conduziu o grupo até a gleba 1 e se demorou em frente a cada uma das sepulturas, tanto a de Iuri quanto a de Alex, ambos exumados e reinumados no mesmo local conforme o livro. Explicou a Iara o processo para transferir os ossos para o Rio, caso ela quisesse providenciar o traslado, e mostrou a ela as anotações referentes aos dois.
Para Iara, recém-chegada ao Brasil após seis anos de exílio, aquele era um momento de grande emoção, uma espécie de ajuste de contas com um passado interrompido violentamente. Era também a primeira pista para uma revelação muito maior, que ajudaria a desvendar o paradeiro de muitos outros desaparecidos.
Suzana, então, contou que a situação de seu marido era semelhante à do Alex e pediu para verificar no livro. Ela nunca havia cogitado procurar Eurico em cemitérios. Se não havia qualquer documento do IML ou de outro órgão a declará-lo morto, como Eurico poderia ter sido enterrado num cemitério municipal, com registro no livro e tudo?
— Também foi em 1972 — contou. — Um pouco depois do Alex, em setembro.
— E qual era o nome dele?
— Luiz Eurico Tejera Lisbôa.
— É, de fato não tem ninguém com esse nome aqui — Toninho conferiu. — Ele usava algum outro nome?
Suzana já esperava por aquela pergunta.
— Nelson Bueno.
Na letra N, quase por encanto, surgiu o nome de Nelson Bueno, enterrado em 2 de setembro de 1972 como não-reclamado. Suzana não podia acreditar. Chorou, o corpo tremendo, os dedos entrelaçados aos de Iara.
“Que canalhas”, Suzana pensava. Havia um modus operandi ali. Era uma estratégia, uma ocultação proposital. Enterravam com o nome falso para dificultar a localização, ela percebeu. Se pais, mães e irmãos raramente sabiam os codinomes usados pelos militantes na clandestinidade, como poderiam encontrá-los?
A descoberta de Luiz Eurico era especialmente alvissareira porque se tratava de um desaparecido, de alguém sobre quem não havia nenhum registro de óbito, nenhuma versão falsa de tiroteio com a polícia nem nada. Nada que eles conhecessem. Foi o início um trabalho sistemático de busca por desaparecidos naquele cemitério e em outros. Numa primeira fase, por meio dos nomes reais. Em seguida, tentando resgatar os codinomes e repetindo as buscas nos livros e nas sepulturas.
Àquela altura, meados de 1979, algumas vítimas da repressão enterradas sem o conhecimento da família já tinham sido localizadas no Cemitério Dom Bosco, com base nos atestados de óbito e nos livros de entrada. Foi o caso de Alexandre Vannucchi Leme e de Joaquim Seixas. Agora, a atuação de Suzana, Ivan e outros familiares seria decisiva para que se localizassem, em Perus, as sepulturas de desaparecidos como Antonio Carlos Bicalho Lana, Sônia Moraes Angel Jones, Antônio Benetazzo e Pedro Pomar, entre outros.
Iara voltou para o Rio. Ivan e Suzana, que moravam em Porto Alegre naquela época, permaneceram em São Paulo por mais alguns dias, mergulhados na busca. Faziam anotações, cruzavam dados, procuravam outros familiares para conciliar as datas e pedir mais informações. Quando a Câmara dos Deputados anunciou que o projeto da Anistia protocolado pelo governo seria submetido ao plenário em 22 de agosto, familiares engajados na campanha por uma anistia ampla, geral e irrestrita decidiram aproveitar a ocasião para denunciar a descoberta daqueles corpos. Era como se buscassem escancarar o que era somente sussurrado. “Enquanto vocês vêm com essa anistia pela metade e se dizem dispostos a dar aos familiares esses atestados de morte presumida, nós estamos aqui para mostrar que não tem morte presumida nenhuma, que a morte é evidente e está documentada, que o Estado perseguiu, torturou e matou nossos entes queridos”.
Diante das câmeras da TV e das equipes de reportagem dos jornais, Suzana revelou que Luiz Eurico e Dênis Casemiro tinham sido encontrados num cemitério em São Paulo. Os desaparecidos não estavam vivos passeando por aí, como Figueiredo e outros políticos da situação costumavam sugerir em diversas declarações. Eles estavam mortos e tinham sido enterrados com dados adulterados para dificultar a localização. “Eu encontrei meu desaparecido e ele está morto”, Suzana dizia. E contava detalhes sobre os dois casos. Luiz Eurico, enterrado como Nelson Bueno. Dênis Casemiro, um rapaz branco de 25 anos, enterrado como se fosse um homem negro de 50.
Foi uma manifestação e tanto em Brasília, a maior manifestação de familiares de mortos e desaparecidos políticos que o Brasil já tinha visto. Saíram ônibus fretados de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte e de Goiás. Teotônio Vilela, senador pelo MDB, foi quem articulou a entrada daquela turma e ajudou a montar o circo no salão verde da Câmara. Familiares, sobretudo mães, empunhavam retratos e faixas com os rostos dos filhos desaparecidos. “Gente, mas eles eram tão jovens”, comentou um deputado de Pernambuco ao olhar aqueles retratos.
O projeto de lei do Governo acabou aprovado, pela minúscula diferença de cinco votos (206 x 201), e a anistia pôde ser promulgada dali a seis dias, em 28 de agosto. Não era a anistia ampla, geral e irrestrita defendida pelos familiares de mortos e desaparecidos e pela maioria dos ex-presos políticos, ora engajados em denunciar as práticas de tortura, dar nome aos torturadores e caracterizá-los como criminosos. A lei da anistia, como acabou sendo interpretada, garantiu a impunidade para esses assassinos e toda a cadeia de comando do sistema repressivo, ao mesmo tempo em que manteve as penas impostas por “crimes de sangue” – somente quando praticados pelos opositores da ditadura. Apesar de todas essas limitações, a anistia representou a volta dos exilados, a libertação dos presos e uma etapa fundamental no processo de redemocratização.
A experiência de ir a Brasília e revelar publicamente a descoberta do paradeiro de Luiz Eurico e Dênis Casemiro, por sua vez, trouxe uma visibilidade inédita para o tema dos desaparecidos políticos. Na semana seguinte, a localização da sepultura de Luiz Eurico, no cemitério de Perus, rendeu matéria de capa da revista IstoÉ. “Aqui está enterrado um desaparecido”, dizia a manchete.
E os outros desaparecidos? Restava solucionar o maior dos mistérios: qual o paradeiro daqueles que, segundo os livros de registros, tinham sido exumados e não foram reinumados em lugar nenhum?
***
Toninho estava obcecado. Para ele, era uma espécie de oráculo de esfinge, um “decifra-me ou te devoro”. A todos os sepultadores que haviam entrado no cemitério antes dele, Toninho repetia a mesma pergunta:
— O que vocês fizeram com os corpos que foram exumados das quadras 1 e 2?
Ninguém respondia.
Toninho perscrutava as páginas daqueles livros de capa preta e fazia contas. Eram muitas exumações. Chegou ao número aproximado de 1.500 pessoas cujas ossadas tinham sido exumadas ao longo de 1975 e das quais não havia qualquer informação sobre reinumação. Toninho entendeu que havia sido feita uma exumação em massa, um ano antes de sua nomeação como administrador do cemitério. Entendeu também que eram exumações regulamentares, autorizadas pela lei municipal que estabelecia o tempo mínimo a partir do qual a municipalidade poderia exumar as ossadas que não fossem retiradas pelas famílias a fim de abrir espaço para novos sepultamentos. O que ele não conseguia entender é por que os corpos não tinham sido reinumados no mesmo local, como de praxe.
O cemitério era novo, havia terra de sobra para fazer o afundamento da sepultura, ou seja, enterrar as ossadas em sacos menores, embaixo da terra, no mesmo local de onde tinham sido exumadas, permitindo que o espaço fosse ocupado por um novo caixão. Ele já havia feito testes, escavado sob outras sepulturas, e nada. O caminho mais simples, previsto no regulamento do próprio serviço funerário, indicava a reinumação no mesmo local e somente se houvesse necessidade de espaço. Nada disso se verificava no Cemitério Dom Bosco, menos ainda em 1975, apenas quatro anos após a inauguração.
Toninho insistia, cobrava os colegas, voltava sempre à mesma pergunta, batia na mesma tecla, como um disco riscado.
— Onde estão as ossadas?
Ninguém respondia.
Toninho estava convencido de que em algum lugar daquele cemitério havia uma vala clandestina, um buraco onde aquela quantidade monstruosa de ossos fora enterrada com ordens expressas para que nada fosse registrado. “Como eu posso administrar um cemitério com uma bomba dessas?”, ele pensava. “Qualquer hora descobrem e a bomba vai estourar no meu colo; vão dizer que fui eu que sumi com esses ossos”.
Para os sepultadores que conheciam o destino das ossadas, o medo era o mesmo. “Se essa notícia estoura, vou perder o emprego e também a aposentadoria”, temiam.
Virava e mexia, Toninho retomava a ladainha de sempre. Às vezes na hora do almoço, às vezes à noite, tomando cachaça.
— Ih, lá vem você com esse assunto de novo!
— Você não cansa, não? Puta cara chato!
— Deixa essa história pra lá!
Toninho deixava pra lá. Depois voltava. E punha-se a jogar verde:
— Tá lá embaixo, perto do Pinheirinho? Tá do lado de fora, no estacionamento? Tá no barrocão, junto com aquele chimpanzé que morreu no circo e foi enterrado aqui?
Com o tempo, Toninho resolveu escolher seu alvo. Para enterrar tanta gente, ele pensou, só mesmo com a retroescavadeira. O único operador de máquina ali era o Pedro.
Uma noite, sozinho com o Pedro, já depois da terceira ou quarta dose, Toninho tocou mais uma vez no assunto. O amigo perdeu a paciência.
— Você fica numa teimosia com esses terroristas — Pedro perdeu a paciência. — Eles estão num buraco lá na área do cruzeiro.
Agora, a obsessão de Toninho não era mais confirmar a existência do buraco, mas por encontrá-lo. Morando no próprio cemitério, como um caseiro, Toninho saía de casa à noite para prospectar a área do cruzeiro. Ia para lá munido com uma sonda, um ferro com mais de três metros de comprimento, e punha-se a espetar o solo. Começou no centro da área. Espetou aqui, espetou ali e nada. Outra noite, tentou na região mais abaixo, próxima à rua que dividia a área do cruzeiro da quadra 1. Nada. Pôs-se, então, a investigar junto ao barranco. Uma noite, às vésperas da anistia, o ferro entrou na terra e quase sumiu. Entrou inteiro, sem esforço.
— É aqui!
Leia no próximo capítulo: Vereadores fecham o cerco. De quem partiu a ordem para ocultar as ossadas num buraco? O plano original era construir um crematório e incinerar os cadáveres. Um arquiteto comunista é chamado às pressas para construir um monumento.