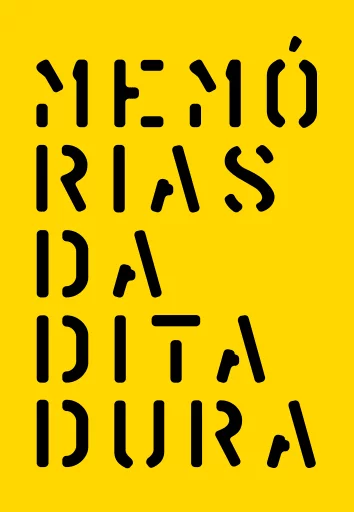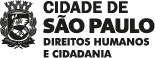Em meados da década de 1960, o futebol já era o esporte mais popular do país e ocupava um lugar central na vida cotidiana brasileira. Às vésperas do golpe militar de 1964, o futebol era um símbolo nacional, com relevância social e cultural. Mais do que um jogo, era um terreno fértil para disputas políticas, além de ajudar a moldar a identidade nacional. Durante a ditadura militar (1964-1985), não por acaso, o futebol foi instrumentalizado pelo regime, ora servindo como propaganda para enaltecer os feitos políticos da ditadura, ora para desviar o foco do que estava acontecendo na vida política do país. Ao mesmo tempo que a ditadura militar abusava politicamente do futebol, o esporte também serviu como uma ferramenta importante de resistência e luta.
Tão logo os militares romperam com a legalidade constitucional, o futebol foi diretamente afetado. No dia 1º de abril de 1964, com o golpe militar, o futebol sofreu sua primeira interferência: a maior competição do país até o momento, o Torneio Rio-São Paulo, teve os jogos suspensos. Foi uma determinação da Confederação Brasileira de Desportos (CBD), que decidiu pelo adiamento das competições esportivas (incluindo futebol, basquete e natação), com receio de uma escalada violenta. A suspensão imediata dos jogos deixava claro que, para os militares, o futebol não era neutro.
Vale lembrar que, na época do golpe, João Havelange era o presidente da CBD. Contudo, mesmo sendo uma figura conservadora, sua relação com os militares não estava bem definida em 1964. Foi só após a consolidação do regime que tanto os militares quanto os membros da CBD buscaram uma aproximação. Essa relação cresceria nos anos seguintes, com Havelange se tornando um dos principais articuladores do uso político do futebol no país e, mais tarde, conquistando a presidência da FIFA, em 1974, com apoio decisivo do regime militar.
Mesmo em sua dimensão esportiva, o futebol era visto como um elemento que precisava ser contido e controlado num momento de instabilidade política. Além disso, também se fazia política com o futebol; não à toa, os dirigentes de clubes paulistas (Portuguesa, Palmeiras, São Paulo e Corinthians) estiveram envolvidos na conspiração que culminou com a queda de João Goulart da presidência do país.
Já nos primeiros meses após o golpe, o regime havia identificado alguns “inimigos” e possíveis opositores. Entre abril e julho de 1964, o estádio Caio Martins, em Niterói, foi o primeiro estádio de futebol utilizado como prisão na América Latina. O Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) do Rio de Janeiro havia excedido a capacidade de suas celas, e a solução encontrada foi utilizar o estádio como prisão. Estima-se que o local recebeu entre 300 e 1.000 presos, acusados de subversão.
Em 1965, o regime deu um duro golpe no futebol ao ratificar o decreto que proibia as mulheres de praticar o esporte. É bem verdade que essa proibição já existia desde 1941, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas (1937-1945). Porém, no regime militar, com apoio do Conselho Nacional de Desportos (CND), a ditadura emitiu uma norma que classificava diversas modalidades como “incompatíveis com as mulheres”. Entre elas estavam o futebol, futsal, futebol de praia, polo aquático, rúgbi, beisebol, halterofilismo e qualquer tipo de luta. A reafirmação dessa proibição, em plena década de 1960, não foi apenas uma continuidade burocrática do Estado Novo: ela revelava um projeto autoritário de uma sociedade marcadamente machista, em que as mulheres não poderiam ocupar certos espaços — até mesmo no campo esportivo.
Ainda em 1965, as relações entre a ditadura e o futebol se estreitaram. O presidente da CBD, João Havelange, solicitou recursos ao regime para a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 1966, além de apoio para sua candidatura à presidência da FIFA. Mais tarde, com a redemocratização, descobriu-se que o regime desviou verbas destinadas a programas sociais para a preparação da Seleção e a candidatura de Havelange. Por outro lado, o governo de Humberto de Alencar Castelo Branco passou a investigar Havelange e o jogador Pelé. Por ser classificado como “apolítico”, Pelé gerava desconfiança. Os militares temiam que sua imagem escapasse ao controle e acabasse servindo à resistência à ditadura.
A Seleção Brasileira — e, de maneira geral, o futebol nacional — passou por um processo de militarização. Para a Copa do Mundo de 1966, o alinhamento com o regime já era visível em todos os níveis: da Confederação às federações estaduais, dos clubes à comissão técnica da Seleção, que chegou a contar com oficiais das Forças Armadas em sua preparação. Apesar disso, o desempenho da equipe foi considerado um fiasco. Após os títulos de 1958 e 1962, esperava-se que o Brasil mantivesse a hegemonia, mas a eliminação precoce frustrou as expectativas dos torcedores — e também dos militares, que já vislumbravam utilizar politicamente o futebol.
Um ano após a Copa de 1966, o futebol doméstico começou a passar por algumas reformas. O maior torneio nacional, o Rio-São Paulo, abriu espaço para equipes dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, em um movimento da CBD para nacionalizar o futebol. Essa reformulação atendia diretamente ao discurso ufanista e à lógica integradora do regime militar, que buscava reforçar a ideia de um Brasil “grande” e “unido” em todos os campos — inclusive no esporte. Essa nova configuração de competição, conhecida como Torneio Roberto Gomes Pedrosa, durou de 1967 a 1970. Em 1971, foi oficialmente criado o Campeonato Nacional, que ampliava ainda mais o alcance territorial da disputa, incorporando clubes de diversas regiões do país e fortalecendo a narrativa de coesão nacional promovida pela ditadura.Enquanto o futebol doméstico passava por alterações significativas, o comando do regime também mudava. Em 1967, Castelo Branco foi sucedido por Artur da Costa e Silva, que permaneceu no poder até 1969, quando foi substituído por Emílio Garrastazu Médici, presidente até 1974. Foi durante a gestão de Costa e Silva que o regime deu um passo decisivo rumo ao autoritarismo com a promulgação do Ato Institucional Número Cinco (AI-5), em 1968. O AI-5 suspendeu garantias constitucionais, concentrou poderes nas mãos do Executivo e institucionalizou a repressão política. A partir daí, a ditadura se aprofundou: a censura foi ampliada, o Congresso foi fechado, e opositores passaram a ser perseguidos, presos, torturados e assassinados. Esse cenário de endurecimento também impactaria o futebol, que passou a ser ainda mais explorado como instrumento de propaganda e alienação. Foi no governo Médici que o futebol foi amplamente utilizado pelo regime.