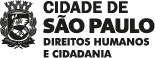Cuidado!
O boletim de ocorrência com seu nome em algum livro
Em qualquer distrito, em qualquer arquivo
Caso encerrado, nada mais que isso
Um negro a menos contarão com satisfaçãoMano Brown e Edi Rock, em “Negro limitado”
A história da vala de Perus começou a ser contada no dia em que o jornalista Caco Barcellos a descobriu. Quando o buraco clandestino com mais de mil ossadas humanas foi deflagrado, em 4 de setembro de 1990, o repórter pôde registrar o momento em que as primeiras pás revolveram a terra e os primeiros sacos foram retirados. Ele sabia que estava diante de algo grande e que aquele havia sido, por alguns anos, lugar de desova de cadáveres de mortos e desaparecidos políticos, por isso trabalhou ao longo de um mês num Globo Repórter sobre o assunto. O que o havia guiado até aquele cemitério, no entanto, não foram os crimes praticados contra os opositores da ditadura, mas os crimes cometidos pelas Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, “a polícia que mata”, segundo o subtítulo que ele deu para o livro Rota 66, lançado em 1992.
Enquanto investigava a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo para escrever seu livro, Caco Barcellos concluíra duas coisas. A primeira, que havia todo um sistema que, na prática, autorizava policiais militares a atuar a um só tempo como promotores, juízes e algozes, decretando a pena de morte dos bandidos que cruzassem seu caminho. A segunda, que, em mais da metade das ocorrências, os supostos delinquentes condenados pelo tribunal de exceção não tinham nenhum histórico de atividade criminal nem cometiam qualquer delito no momento da abordagem. Eram pessoas comuns, sem passagem pela polícia, quase sempre jovens, pobres e pretas, assassinadas muitas vezes com mais de três tiros nas costas ou na nuca.
As pessoas mortas pela Polícia Militar tinham algo em comum com os militantes políticos executados ou desaparecidos na carceragem do Dops, nas chácaras clandestinas ou nas câmaras de tortura do DOI-Codi a partir de 1968: eram todas vítimas da violência de Estado. Suas ossadas, cedo ou tarde, se encontrariam no Cemitério Dom Bosco, para o qual os dois grupos convergiam.
Analisadas em perspectiva, as estatísticas falam por si. “Os números da década de 70 mostram que a violência policial foi muito maior em relação aos criminosos e cidadãos comuns”, escreveu Caco Barcellos no livro Rota 66. “Os latrocínios pularam de 62 (em 1970) para 276 (em 1980). Os homicídios, de 666 (em 70) para 1.424 (em 80). Já os assassinatos por policiais passaram de 28 (em 70) para 280 (em 80)”. Enquanto os primeiros crimes quadruplicaram e os segundos dobraram em uma década, a letalidade da PM paulista cresceu dez vezes. “A diferença se acentua ainda mais ao longo da década de 80”, diz o livro. “No mesmo período de 81 a 91, os assassinatos envolvendo PMs cresceram de trezentos para mais de mil, aumento superior a 300 por cento”.
Passados trinta anos desde a abertura da vala de Perus, o jornalista entende a execução de militantes políticos e os crimes praticados pela PM como faces do mesmo fenômeno: a violência de Estado. “Em 2020, em plena pandemia, a Polícia Militar de São Paulo matou mais de 500 pessoas apenas no primeiro semestre”, diz. “Em seis meses, mais do que a ditadura matou em 21 anos”. Caco Barcellos faz referência aos 434 mortos e desaparecidos políticos listados no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Este número, é bom lembrar, considera somente as vítimas fatais que exerciam alguma atividade política de oposição à ditadura. Hoje, sabe-se que, para além dos militantes, a ditadura pode ser responsabilizada pelo extermínio de mais de 8.350 indígenas – em apenas dez etnias pesquisadas – e 1.196 camponeses, conforme relatórios elaborados pela mesma CNV. Para além dessas execuções, que podem ter alcançado um número muito maior do que o ora conhecido, a ditadura militar foi responsável por um pacote muito maior de violências: 20 mil pessoas foram torturadas, mais de 4.800 representantes do povo foram destituídos dos cargos para os quais tinham sido eleitos pelo voto direto, e cerca de 200 mil pessoas foram perseguidas.
Também remontam ao período de exceção os fundamentos teóricos que serviram de alicerce para a atuação das Polícias Militares, reorganizadas em 1969 a partir da fusão das Forças Públicas com as antigas Guardas Civis. Instituídas por um decreto-lei firmado naquele ano pelo presidente Costa e Silva e geridas pelos governos estaduais, as PMs foram concebidas para serem “forças auxiliares do Exército”, segundo o texto legal que as criou. A Rota, fundada em 1970, surgiu como unidade de elite da PM paulista para fazer policiamento ostensivo no Centro e, principalmente, nas periferias de São Paulo, com a mesma disposição para o combate esperada de um soldado do Exército numa zona conflagrada. A própria hierarquia da PM fora concebida para emular as patentes do Exército, com soldados, sargentos, tenentes, capitães e coronéis. Sua atuação reflete a mesma doutrina de segurança fomentada pelos generais que comandavam o país – e nomeavam os governadores – nos anos 1960.
As bases da doutrina de segurança nacional instituída no Brasil naquele período remontam ao tipo de nacionalismo professado na Escola Superior de Guerra desde os anos 1940. Ali, recorria-se ao patriotismo para justificar a ordem de defender o Brasil das ameaças externas, personificadas desde 1960 no comunismo, na União Soviética. A partir de 1968, essa doutrina, bastante influenciada pelos Estados Unidos, principal antagonista da “ameaça vermelha”, passa a ser fustigada por outra doutrina, de origem francesa, que radicaliza não somente a caça aos comunistas, mas principalmente a repressão a toda espécie de contestação ou ação insurgente que despontasse na população. Agora, a principal ameaça não era mais a externa, mas o “inimigo interno”, ou seja, os “subversivos”.
Para combatê-los, a estratégia incluía métodos como o interrogatório sob tortura e o desaparecimento forçado, emprestados dos franceses, que já na Segunda Guerra haviam combinado o serviço de inteligência, a polícia e grupos paramilitares para colocar em prática uma política de desaparecimento forçado que ficou conhecido como “noite e neblina”: os prisioneiros deveriam sumir na noite e na neblina, sem deixar rastros, ou seja, sem qualquer registro de seu paradeiro. Essa política foi amplamente utilizada pelos militares franceses para tentar reprimir a ação dos insurgentes que lutavam pela independência da Argélia nos anos 1950 e, na década seguinte, foi transmitida aos militares norte-americanos, então empenhados na Guerra do Vietnã, por Paul Aussaresses, agente do serviço secreto francês nomeado instrutor nas bases militares de Fort Benning, na Geórgia, e de Fort Bragg, na Carolina do Norte. Em meados dos anos 1960, militares brasileiros tiveram aulas com Aussaresses nos Estados Unidos. De lá trouxeram as técnicas de tortura e de combate a guerrilhas que seriam aplicadas no Brasil, sobretudo durante o governo Médici (1969-1974). Em 1973, Aussaresses foi nomeado adido militar da França no Brasil, onde viveu por dois anos.
Ambos os métodos, tanto a tortura quanto o desaparecimento forçado, sobreviveram ao fim da ditadura, assim como os grupos de extermínio. Hoje, a Rota é apenas uma das muitas unidades da Polícia Militar que transformaram o terror em práticas cotidianas. “Como essas unidades se reproduziram no país inteiro”, diz Caco Barcellos, “no Rio de Janeiro, a 400 quilômetros da base paulistana, criaram-se outras unidades matadoras. No ano passado (2019), só a unidade do Rio de Janeiro matou quase duas mil pessoas”.
Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), 1.810 pessoas foram mortas em supostos confrontos com a Polícia Militar do Rio de Janeiro em 2019. São cinco vítimas fatais por dia, número 18% maior do que o registrado no ano anterior. Um recorde histórico. No mesmo ano de 2019, o número de homicídios no Estado foi de 3.995. Por opção metodológica, e alguma perversão simbólica, esse índice exclui as mortes praticadas pela polícia, como se o assassinato cometido por agentes fardados fossem outra coisa. Ou seja, a cada três vítimas de morte violenta no Rio de Janeiro, uma teve seu destino selado por um ou mais policiais, quase sempre com o beneplácito do Estado.
A certeza da impunidade tem sido um dos ingredientes principais dessa estatística macabra. Em São Paulo, em 2019, enquanto 845 pessoas foram mortas por policiais militares, apenas 35 agentes foram presos. O número de policiais condenados está em queda livre e é o menor desde 2011, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, apesar do aumento do número de civis mortos pela PM no mesmo período. A fim de comparação, foram presos 114 policiais em 2012, 105 em 2015 e 35 em 2019 no Estado.
O alto índice de mortes praticadas pela polícia, aliado à proliferação de chacinas e à percepção crescente de que grande parte das vítimas seja inocente – e não tenha sido alvejada por resistir à prisão ou por trocar tiros com os policiais, como alegam a versão oficial e os autos de resistência –, acabam por comprometer a imagem da corporação. Segundo pesquisa feita pelo Datafolha e divulgada em abril de 2019, 51% dos brasileiros têm mais medo do que confiança na PM. No senso comum, grassa o entendimento de que policiais agem segundo regras próprias, inclusive à margem da lei.
A polícia que mais mata é também a que mais morre. Em todo o Brasil, 343 policiais civis e militares foram vítimas de morte violenta em 2018 segundo levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número é 10% menor do que no ano anterior, o que pode indicar uma bem-vinda tendência de queda, mas segue bastante alto. Três em cada quatro policiais mortos tombaram no horário de folga (ou enquanto faziam bico como segurança). Um em cada três foi vítima de latrocínio, o roubo seguido de morte. Os 87 policiais mortos em serviço ao longo daquele ano implicam uma média de um óbito a cada quatro dias, o que reforça a percepção de que há algo de errado num sistema que produz guerra quando deveria gerar segurança. Outros 104 policiais cometeram suicídio em 2018.
***
“Onde está o Amarildo?”, protestaram artistas, políticos, ativistas e entidades de defesa dos direitos humanos quando o pedreiro Amarildo Dias de Souza desapareceu depois de ter sido detido por policiais militares e conduzido até uma base policial na comunidade da Rocinha, onde morava, em julho de 2013. A repercussão obrigou o Ministério Público e a Polícia Civil a abrir inquérito, o que provavelmente não aconteceria sem que as denúncias ganhassem visibilidade. Em dezembro daquele ano, os peritos concluíram que o pedreiro tinha sido torturado até a morte. Seus algozes foram servidores públicos que deveriam zelar pela segurança da população, inclusive a dele. O corpo nunca apareceu.
O Estado que mata também faz pessoas sumirem. Para quem mata, o desaparecimento forçado surge como um dispositivo capaz de afastar a hipótese, mesmo que remota, de punição: se não há corpo, não há crime.
Entende-se por desaparecimento forçado “a prisão, a detenção, o sequestro ou qualquer outra forma de privação de liberdade que seja perpetrada por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos de pessoas agindo com a autorização, apoio ou aquiescência do Estado, e a subsequente recusa em admitir a privação de liberdade ou a ocultação do destino ou do paradeiro da pessoa desaparecida, privando-a assim da proteção da lei”.
Esta definição está na Convenção internacional para a proteção de todas as pessoas contra o desaparecimento forçado, aprovada em 2006 pela Organização das Nações Unidas. O mesmo documento determina que “a prática generalizada ou sistemática de desaparecimento forçado constitui crime contra a humanidade” e que cada Estado tomará as medidas necessárias para responsabilizar penalmente “toda pessoa que cometa, ordene, solicite ou induza a prática de um desaparecimento forçado, tente praticá-lo, seja cúmplice ou partícipe do ato”. Determina também que “nenhuma pessoa será detida em segredo” e que, em caso de falecimento durante a privação de liberdade, o Estado garantirá “a todos que tiverem interesse legítimo nessa informação”, como os familiares, o acesso às informações sobre “a causa do falecimento e o destino dado aos restos mortais”.
O Brasil assinou esta convenção em 2007 e a ratificou em 2010. Desde 2011, 30 de agosto é considerado pela ONU o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimento Forçado. Em 2018, foram reportados à polícia 82.094 casos de pessoas desaparecidas no Brasil, aqui incluídos os desaparecimentos forçados, voluntários e involuntários. Apenas 52.328 foram localizadas, o que gerou um passivo de 30 mil desaparecimentos não solucionados somente naquele ano. Esses casos permanecem em aberto por diferentes razões, mas sobretudo por omissão. Do Estado.
O Estado não é omisso quando exerce deliberadamente a ação de sumir com opositores, criminosos e cidadãos inocentes. Nestes casos, ele é autor do crime. O Estado é omisso quando se exime da responsabilidade de coibir o desaparecimento forçado e punir aqueles que o praticam. Ele também é omisso quando não envida esforços suficientes para prevenir o desaparecimento ou buscar soluções.
Signatário da convenção da ONU contra o desaparecimento forçado há uma década, o Estado brasileiro tem sido criminoso, como no caso Amarildo, e também omisso. Omisso, inclusive, por não ter criado, até hoje, no âmbito do Poder Executivo, um sistema integrado capaz de cruzar com eficiência informações das delegacias de polícia e dos Institutos Médicos Legais de cada Estado, bem como formar um banco de dados que integre, em rede, as Secretarias de Segurança Pública dos diferentes Estados, iniciativa que poderia mitigar o problema contribuindo sobremaneira para a localização de desaparecidos.
“O Brasil está sendo cobrado pelo cumprimento do tratado da ONU, que ratificou há dez anos, e o Governo Federal não tem muito a dizer; ele nem conseguiu implementar um banco de dados”, diz a promotora de justiça Eliana Vendramini, coordenadora do PLID de São Paulo.
O banco de dados a que ela se refere é, hoje, uma exigência legal, estabelecida pela Lei Federal 13.812 de março de 2019, que instituiu a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e criou o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Esse cadastro não existe na prática. Sequer foram estabelecidos protocolo, equipe responsável e órgão responsável por alimentá-lo. O que o Governo Federal chama de Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, hospedado no endereço www.desaparecidos.mj.gov.br, nada mais é do que o já ultrapassado Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, instituído por lei federal em 2009 e abandonado em seguida. O aspecto é de um site “piloto”, com apenas 106 crianças desaparecidas cadastradas no Estado de São Paulo com nome e fotografia, a mais recente delas incluída em 2008.
Outras iniciativas neste sentido não são do Executivo Federal como previsto em lei. A mais importante delas é o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Pessoas (Sinalid), implementado em 2017 pelo Conselho Nacional do Ministério Público a partir das experiências dos Plids. O Sinalid tem sido abastecido pelos Ministérios Públicos estaduais, sem equipes específicas nem orçamento proporcional ao desafio colocado. Até setembro de 2020, a plataforma havia registrado cerca de 73 mil ocorrências, segmentadas por Estado, ano do desaparecimento, sexo, idade e cor da pele das pessoas desaparecidas.
Referindo-se às pessoas desaparecidas que vêm a óbito, e que chegam aos cemitérios como corpos “não identificados”, Eliana Vendramini diz que a omissão do Estado se dá quando autoridades que poderiam recorrer a outros dispositivos de identificação não o fazem. “Essas pessoas são nominalmente não identificadas, mas têm vários dados que as identificam, para além do nome”, afirma. “Esses dados deveriam ser minuciosamente anotados para a devida localização”. Dados antropométricos, cor da pele, dos olhos, tatuagens, cicatrizes ou mesmo a roupa que vestiam ao chegar ao IML são elementos identificadores. Segundo Eliana, essas informações deveriam ser anotadas pelo médico legista durante o exame necroscópico e abastecer um banco de dados que pudesse ser cotejado com as informações reunidas pelas delegacias da polícia civil junto aos familiares que registrarem o desaparecimento. “Tem um boletim de ocorrência de desaparecimento, você pega os dados físicos da pessoa, ainda que não identificada por nome, e compara. Para isso seria fundamental interligar delegacias e IMLs”, explica.
O modelo atual, ao contrário, transforma o corpo anônimo em “não identificado”, procedimento que Eliana chama de “redesaparecimento”: o cidadão desaparece pela primeira vez ao sumir de casa e pela segunda vez por ação do Estado. Em vez de investigar, divulgar as características da pessoa, fazer um cadastro consistente com informações que possam contribuir para sua localização, mesmo que tardiamente, após o sepultamento, o Estado não registra aquele óbito com um mínimo aceitável de dados físicos ou de informações sobre o local da morte, as circunstâncias, as roupas que usava. “Do jeito que é feito, ele nunca mais será identificado”, diz Eliana.
O redesaparecimento também tem sido chamado de “desaparecimento administrativo”. Outra forma de desaparecimento administrativo acomete os corpos ditos “não reclamados”, aqueles que não são localizados pelas famílias e, por isso, são sepultados à revelia dos parentes, em sepulturas comuns, recebendo o mesmo tratamento dados aos não identificados e aos indigentes. Hoje, o IML – bem como o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), para onde são encaminhadas as vítimas de mortes não violentas – mantém esses corpos em câmara fria por um período de 72 horas à espera de alguém que os “reclame”. Mesmo que o corpo tenha sido encontrado com a cédula de identidade no bolso, dificilmente a família ficará sabendo de sua morte se nenhum parente for atrás. Não existe um serviço de busca ativa ou qualquer dispositivo legal que obrigue o Estado a procurar as famílias. É a família que tem de ir ao IML ou ao SVO à procura do parente desaparecido. O resultado é que uma pessoa sozinha, que tenha como hábito passar mais de 72 horas sem se comunicar com algum familiar, ou que tenha família em outras cidades ou países, corre o risco real de ser enterrada sem que amigos e parentes fiquem sabendo, caso venha a óbito na rua, vítima de uma bala perdida, um latrocínio, um atropelamento ou mesmo por causas naturais. Para suas famílias, entrará nas estatísticas de desaparecimento e, possivelmente, sua morte e seu sepultamento jamais venham a ser conhecidos ou esclarecidos.
O Estado é violador de direitos, por negligência ou omissão, ao não evitar nada isso. “O Estado poderia se empenhar, mas não o faz”, diz a promotora Eliana Vendramini. “As pessoas acham que isso é lenda, ou que é fruto de governo ditatorial. Não, é fruto também de um governo pseudodemocrático. Porque a gente tem a necropolítica brasileira. Certas pessoas, não interessa encontrá-las”.
***
Necropolítica é um conceito formulado pelo filósofo camaronês Achile Mbembe, apresentado pela primeira vez num artigo de 2003. Enquanto o Estado soberano, em sua forma clássica, exercia o poder político decretando, sempre que necessário, a morte de seus súditos, seja na forca ou na guilhotina, como forma de manter o controle social e evidenciar a própria soberania, Mbembe verifica que os Estados contemporâneos, mesmo sem o poder soberano de antigamente, mantiveram diversos dispositivos que produzem a morte como política de Estado. “A expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer”, escreveu. E mais adiante: “Nesse caso, soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é ‘descartável’ e quem não é”.
O Estado nazista seria, segundo Mbembe, exemplo de um poder que domina exercendo o direito de matar. Essa dominação incidiria não somente sobre os inimigos externos, o que seria comum à maioria das guerras, mas também sobre os próprios cidadãos. No caso, os cidadãos de origem judaica, os comunistas, os negros, os ciganos, os homossexuais, os deficientes físicos, os doentes mentais, sindicalistas, padres e adeptos de outras crenças e religiões.
E quem podia ser morto no Brasil de 1971? Os comunistas, os “terroristas”, os “subversivos”, quase sempre assassinados sob tortura, mas também os pobres, os indígenas, os camponeses, os deficientes, os gays, todos aqueles que não importavam, que eram “descartáveis”, conforme o termo utilizado por Mbembe, que podiam ser abandonados para morrer. E ainda os delinquentes, os “trombadinhas”, os “marginais”, cuja eliminação ficava a cargo das tropas de elite da PM, como a Rota, e dos grupos de extermínio. Muito comuns no período militar, os grupos de extermínio consistiam em estruturas extraoficiais, normalmente paramilitares, que saíam às ruas com autorização tácita para matar quem “merecesse”. Entre os grupos de extermínio mais atuantes nos anos 1960 e 1970 estavam o Esquadrão da Morte de São Paulo, comandado pelo delegado do Dops Sérgio Paranhos Fleury, e a Scuderie LeCocq, do Rio, comandada por policiais como José Guilherme Godinho, o Sivuca, que em 1990 seria eleito deputado estadual repetindo o bordão “bandido bom é bandido morto”.
Outros brasileiros que podiam ser mortos naquele período eram os “loucos”. Não à toa, a jornalista Daniela Arbex deu o título de Holocausto brasileiro ao livro de 2013 em que narrou os maus-tratos e o genocídio de 60 mil internos no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, no interior de Minas Gerais, o maior manicômio do Brasil nos anos 1960. Segundo denúncias, 70% dos internos não tinham diagnóstico de distúrbio mental. Eram os “indesejados”: homossexuais, pessoas com deficiência, alcoólatras, mendigos, moças que haviam perdido a virgindade antes do casamento e empregadas domésticas que haviam sido engravidadas por seus patrões, deixados ali para serem deliberadamente abandonados, para que a sociedade pudesse se esquecer deles. Internados para morrer.
Em São Paulo, todas essas pessoas poderiam ter a vala clandestina de Perus como destino. Muitas tiveram, sobretudo os mortos pela Rota, as vítimas dos grupos de extermínio e os miseráveis. “A vala de Perus é uma espécie de dispositivo de desaparecimento híbrido, que combina o desaparecimento propriamente dito com o desaparecimento administrativo, que já existia no Brasil muito antes de haver a vala”, diz o filósofo Fábio Franco, autor da tese Da biopolítica à necrogovernamentalidade, defendida na USP, em 2018, com orientação de Vladimir Safatle. “O desaparecimento administrativo não é algo trazido pela ditadura. Ao contrário, ele já era parte de uma política frequente, de Estado. O que talvez tenha sido uma novidade da repressão foi inserir o resistente político nesse sistema de desaparecimento administrativo, um sistema que persiste até hoje.”
Pensando no século XXI, quem “pode morrer” no Brasil de hoje? Todos aqueles, isso é certo, e mais as mulheres, os pobres, a juventude negra e periférica, a população carcerária. O pedreiro Amarildo podia morrer. Marielle Franco, vereadora carioca de um partido de esquerda, preta, periférica, bissexual, ativista dos direitos humanos, também. As vítimas da política de guerra às drogas, quase todas negras, também.
“A carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico”, cantou Elza Soares em 2002 (o reggae A Carne, de Marcelo Yuka, Seu Jorge e Ulisses Cappelletti, foi lançado originalmente em 1998 em álbum da banda Farofa Carioca). “Mais de 30 mil jovens são assassinados no país, fruto da violência urbana e cotidiana”, escreveu Juliana Borges em O que é encarceramento em massa?. “Conseguimos afirmar de modo categórico a contradição de que somos um povo e país sem qualquer preconceito ao passo que, destes mais de 30 mil jovens, 23 mil deles sejam jovens negros”. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as taxas de homicídio aumentaram 11,5% para negros entre 2008 e 2018, enquanto entre os não negros se verificou uma redução de 13% no mesmo decênio.
Douglas Rodrigues tinha 17 anos e havia saído de casa junto com o irmão mais novo, de 13 anos, para procurar um chaveiro, quando foi baleado no peito por um policial que nem sequer saiu de sua viatura. “Por que o senhor atirou em mim?”, foram suas últimas palavras, em 2013, no Jardim Brasil, Zona Norte de São Paulo. O agente foi absolvido.
Mais de 200 tiros foram disparados contra o carro do músico Evaldo Rosa dos Santos em Guadalupe, na Zona Norte do Rio, em 2019. Do total, 83 balas atingiram o carro, nove feriram Evaldo, três delas na cabeça. Evaldo foi confundido com um bandido e morreu na hora. Um dos militares envolvidos na execução fez 77 disparos contra ele. Outro disparou 54 vezes. No total, doze militares participaram da ação e nove foram presos. Por 47 dias.
Ágatha Félix tinha 8 anos e voltava de Kombi da escola para sua casa, no Complexo do Alemão, quando foi atingida por uma bala nas costas e morreu. O tiro foi disparado por um policial que havia mirado um motoqueiro que passava ao lado da Kombi. Nenhum confronto, nenhum tiroteio. A versão policial foi de confronto. Os agentes teriam agido em legítima defesa. Era 2019.
Também em 2019, numa madrugada de sábado, uma operação policial no bairro de Paraisópolis, em São Paulo, deixou nove mortos e doze feridos numa festa. Segundo a versão oficial, morreram pisoteadas ao tentar deixar o local da festa. Segundo moradores locais, os agentes distribuíram socos e pontapés que resultaram nas nove mortes.
Mizael Fernandes da Silva, o único branco desta lista, tinha 13 anos e dormia quando foi morto a tiros dentro do seu quarto, na cidade de Chorozinho, região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, em julho de 2020. O inquérito concluiu que o menino estava armado e que os dois policiais envolvidos no homicídio agiram em legítima defesa. Um deles era investigado por torturar um homem em fevereiro de 2019. Continuou na ativa.
Entre 2016 e 2018, enquanto analisava as ossadas de Perus, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp (CAAF) abrigou a realização de um projeto paralelo de investigação sobre os crimes de maio de 2006. Naquele mês, entre os dias 12 e 20, pelo menos 560 pessoas foram mortas pela polícia no Estado de São Paulo num arroubo de violência institucional sem precedentes no Estado. Em 2016, uma equipe de pesquisadores vinculada ao CAAF debruçou-se sobre laudos, processos e entrevistas com familiares de sessenta pessoas mortas na Baixada Santista naquele período. Como resultado, a constatação de que houve truculência desproporcional e prática deliberada de execução sumária: tiros que acertaram os alvos em trajetória descendente etc. Poderiam estar todos na vala de Perus, não fosse um singelo deslocamento de 35 anos entre os mortos de ontem e os mortos de hoje.
***
Ao lado dos crimes de execução e desaparecimento forçado, há uma terceira violência de Estado característica da vala de Perus que também permanece: a ocultação de cadáveres, irmã siamesa dos outros dois.
A ocultação de cadáveres é, hoje, sobretudo burocrática. Um corpo enterrado numa vala comum, como desconhecido ou não reclamado, está, via de regra, ocultado para sempre. Quem vai encontrá-lo? Ainda assim, os dispositivos da necropolítica permanecem à espreita. E o estrago pode ser maior.
Em agosto de 2019, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a concessão dos cemitérios públicos e do crematório da Vila Alpina. A lógica capitalista faz com que os ciclos precisem ser reduzidos. Tempo é dinheiro. Terra também é dinheiro. Neste sentido, há uma pressão permanente para que as ossadas, sobretudo as de desconhecidos e não reclamados, sejam desprezadas mais rapidamente para que as sepulturas sejam ocupadas por um novo corpo e assim sucessivamente. Se no início dos anos 1970 uma lei municipal reduziu de cinco para três anos o prazo para a exumação dos restos mortais, a primeira versão do projeto de lei protocolado na Câmara em 2019 previa reduzir esse tempo para apenas seis meses, o que foi retirado da versão final, implementada pelo decreto 59.196 de 29 de janeiro de 2020. Ao mesmo tempo em que o aumento da rotatividade multiplicaria por seis a taxa de ocupação dos cemitérios, o que teria impacto positivo sobretudo na área econômica, a medida, caso adotada, poderia comprometer por completo qualquer tentativa de localização e identificação futura dos remanescentes ósseos dos “desconhecidos” e “não reclamados”.
Em 2016, quando integrei a Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo, pudemos nos debruçar também sobre este aspecto. Um primeiro dado que nos surpreendeu foi descobrir que existe uma lei de 1967, nunca revogada, que permite a cremação de desconhecidos e não reclamados. “Em caso de morte violenta, a cremação, atendidas as condições estatuídas neste artigo, só poderá ser levada a efeito mediante prévio e expresso consentimento da autoridade policial competente”, diz o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei nº 7.017 de 19 de abril de 1967. “A Prefeitura poderá determinar, observadas as cautelas indicadas nos parágrafos anteriores, tal seja o caso, a cremação de cadáveres de indigentes e daqueles não identificados”, diz o parágrafo terceiro.
Em nosso relatório final, incluímos recomendações específicas sobre a gestão dos cemitérios: “Para que a legislação municipal esteja de acordo com as práticas democráticas e não corrobore violações aos direitos humanos em nenhuma circunstância”, diz o texto, “esta CMV recomenda a supressão dos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º da Lei nº 7.017/67, e que fique proibida a cremação de corpos ou restos mortais de pessoas não identificadas e daquelas cujas famílias não foram localizadas por ocasião do sepultamento nem posteriormente (ou seja: que jamais puderam optar pelo traslado). É recomendável que o Poder Executivo municipal tome a dianteira na elaboração de um projeto de lei neste sentido, e que se empenhe por sua aprovação e sanção”.
O decreto de 2020 manteve a possibilidade de incineração dos restos mortais decorrido o prazo legal de três anos após o sepultamento, mas, no caso dos não identificados, introduziu no texto legal uma medida mitigadora relevante: a obrigação de preservar e manter em condições adequadas parte do material genético, em quantidade suficiente para fins de eventual identificação civil.
Ao mesmo tempo, a ocultação de cadáveres segue como modalidade corriqueira de violência de Estado em sua forma mais perversa: as milícias, sobretudo no Rio de Janeiro. Milícias são arranjos sofisticados que congregam quase sempre lideranças locais, políticos e policiais e que exercem domínio territorial sobre determinada comunidade, área ou região, normalmente antagonizando com traficantes, embora não seja raro que os esquemas também os envolvam. Onde o Estado falta, as milícias chegariam para garantir segurança e bem-estar aos moradores. Matam com espantosa naturalidade, mas sempre com uma “boa razão”: evitar os furtos, os roubos e outras possibilidades de violência. Como se dissessem: o monopólio da força agora é nosso, em nome da ordem e da segurança. Parte significativa dos moradores costuma apoiar esses arranjos, mesmo sabendo que eles operam à margem da lei. Segundo esse olhar, a crueldade das milícias estaria reservada aos marginais, nunca a quem respeita as regras, enquanto o crime comum, os assaltos, os estupros, são imprevisíveis e ameaçam a todos. Qualquer semelhança com a repressão dos tempos da ditadura militar e com a forma como parte das pessoas se lembra daquele período não é mera coincidência.
No livro A república das milícias: dos esquadrões da morte à Era Bolsonaro, lançado em 2020, Bruno Paes Manso narra a trajetória do ex-miliciano Lobo, nome fictício para um personagem real, que foi preso por três anos, acusado de matar pelo menos vinte pessoas e ocultar seus corpos em cemitérios clandestinos. Uma reportagem do jornal O Dia de outubro de 2019 revelou que, somente naquele ano, a polícia civil havia localizados seis cemitérios clandestinos, com pelo menos 35 corpos ocultados, dois em Itaboraí e quatro na Baixada Fluminense.
A estratégia de ação das milícias – cobrando mensalidades dos moradores e dos comerciantes, praticando o monopólio na venda de gás e de TV a cabo, mas afastando as drogas e os traficantes para longe – justifica o apoio que esses grupos armados costumam receber nos bairros. Esse apoio acaba facilmente transferido para algum candidato na época da eleição: o candidato que o chefe da milícia indicar. Em regiões conflagradas pela guerra às drogas, onde o Estado formal é ausente quanto ao dever de garantir saúde, educação, emprego e alimentação, e sobretudo segurança, são os milicianos que exercem, na prática, o poder Executivo.
***
— Por que falar sobre a vala de Perus em 2020?
Esta questão me foi colocada por um conhecido enquanto escrevia este livro. Pensei por alguns minutos antes de arriscar uma resposta. Disse a ele que, em primeiro lugar, falar da violência de Estado dos anos 1970 nos permitiria traçar paralelos e jogar luz sobre a violência de Estado de hoje. Mostraria de onde vem e ressignificaria o desaparecimento político, revelando o quanto é equivocado o argumento negacionista, muito em voga, de que a ditadura militar só foi ruim para quem “mereceu”, para quem era “terrorista”. Mais de mil corpos ocultados na vala clandestina em 1976 não eram de militantes políticos, mas de outras vítimas do Estado.
Lembrar a vala de Perus seria oportuno também para interpretar alguns elementos constitutivos do contexto atual. A começar pela atuação da polícia. A PM mata mais hoje do que há 50 anos, e sua origem é, justamente, a ética militar segundo a qual o cidadão pode ser tratado como “inimigo interno” e, consequentemente, abatido. São passíveis de aniquilamento não apenas os opositores políticos, mas também os indesejados, os desajustados.
Escrever sobre a vala de Perus em 2020 também nos coloca frente a frente com Jair Bolsonaro e sua cosmogonia. Logo após o massacre do Carandiru, no qual 111 presos da Casa de Detenção de São Paulo foram fuzilados, em 1992, o então deputado federal Jair Bolsonaro afirmou o seguinte: “Morreram poucos; a polícia tinha que ter matado mil”. Em 2016, declarou que “o erro da ditadura foi torturar e não matar”. Ainda em 2016, Bolsonaro dedicou à memória do torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra seu voto a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Dois anos depois, durante a campanha eleitoral de 2018, declarou que seu livro de cabeceira era A verdade sufocada: A história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, escrito por Ustra. Dos cinco desaparecidos cujos restos mortais foram identificados na vala entre 1990 e 2020, três foram assassinados no DOI-Codi de São Paulo sob o comando de Ustra.
Já na Presidência, Bolsonaro tentou instituir comemorações nos aniversários do golpe de 1964. Em seguida, suspendeu os repasses que viabilizavam o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, deixando seus integrantes sem remuneração e o órgão sem infraestrutura. Meses depois, mexeu na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, substituindo a presidente antes do fim do mandato. Em maio de 2020, recebeu o Major Curió, responsável pela repressão à Guerrilha do Araguaia, para uma sorridente reunião no Palácio do Planalto. Em outubro, foi o vice-presidente da República que elogiou Ustra em entrevista ao canal alemão Deutsche Welle. “Um homem de honra que respeitava os direitos humanos de seus subordinados”, disse Hamilton Mourão sobre o notório torturador.
Escrever sobre a vala de Perus em 2020 também traz à tona outros aspectos do momento atual. Parte dos corpos ocultados na vala é, segundo anotações feitas nos livros de entrada no cemitério, de vítimas de uma epidemia de meningite que se alastrou pelo país na primeira metade da década de 1970. Muitas crianças morreram. Em São Paulo, quase todas as famílias tiveram pelo menos um primo ou um neto entre as vítimas fatais. Não deixa de ser curioso, e trágico, que em 2020 tenhamos novamente uma pandemia altamente letal e igualmente caracterizada pela subnotificação e pelo descaso das autoridades. Meio século atrás, o Estado já tentava reduzir as estatísticas de modo a evitar manchetes desabonadoras. E reduzia as estatísticas não por meio de ações de prevenção ou de combate ao vírus, mas por meio da ocultação de tudo: das notícias e também dos corpos. Neste ano, muitos cemitérios enfrentaram um aumento exponencial no número de sepultamentos e viram se multiplicar o número de pessoas enterradas às pressas, em cova comum, sem identificação, muitas vezes sem esperar 72 horas. Esses corpos, ocultados sob um regime dito democrático, serão algum dia identificados?
A violência de Estado tem muitas faces. A história da vala de Perus nos apresenta algumas delas. A perseguição política, a tortura, a prática do extermínio como forma paradoxal de conter a violência por meio do terror, a falsificação de laudos e outros documentos, o desaparecimento forçado e a ocultação de cadáveres. Nenhuma delas desapareceu. E todas, sem exceção, existem em maior ou menor escala desde o Brasil colonial. Foram tributárias do modo de produção escravista e constitutivas da identidade nacional. Ajudaram a forjar as relações sociais, moldaram o comportamento da elite e construíram uma institucionalidade calcada no controle e na opressão, raramente na liderança e no convencimento. Permanecem, através das gerações, embaladas no racismo, no machismo, no controle do corpo feminino, no patrimonialismo, na concentração dos meios de comunicação, no desmatamento, na censura e num modelo socioeconômico que segrega e é, por si, violento. Ou haverá violência de Estado mais corriqueira – e banalizada – do que a fome, a desnutrição, a falta de acesso a saúde, educação e moradia digna?
Escrever sobre a vala de Perus em 2020 é falar dos mortos, dos desaparecidos e dos ocultados de ontem e de hoje. Para nos lembrar que a luta e a vigilância não dão trégua. E que a democracia está aí para ser conquistada. Todos os dias.