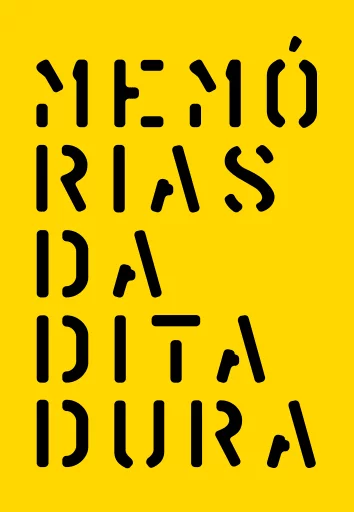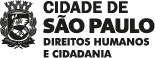Em 1976, na 32ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), com intensa participação dos médicos sanitaristas, de profissionais ligados à Secretaria da Saúde de São Paulo e de membros de instituições universitárias, cria-se o Cebes, que teria como finalidade incentivar e promover o estudo de todos os fatores determinantes da saúde e contribuir para a resolução dos problemas relacionados aos profissionais de saúde, aos estudantes e ao ensino de das ciências da saúde no país. O Cebes seria reconhecido como protagonista institucionalizado da Reforma Sanitária, produzindo, ainda em 1976, a revista Saúde e Debate e uma série de obras relevantes para a ampliação do tema, denunciando as iniquidades da organização econômico-social e as perversidades do sistema de prestação de serviços de saúde privatizado, mas participando das lutas pela democratização do país e por uma dada racionalidade na organização das ações e serviços de saúde.
Outro ambiente em que os médicos sanitaristas assumiram postos em áreas periféricas das cidades tinha relação com esse contexto político, abrindo espaço para que surgissem novas formas de reivindicação pelo direito e acesso à saúde, caso do Movimento Popular de Saúde, originado em subúrbios e favelas, quando seus moradores se aglutinaram em torno de associações comunitárias buscando alguma forma de organização primária para reivindicar melhores condições de vida. Nesse período, estreitaram-se as relações desses profissionais de saúde com os movimentos populares, via Centros de Saúde e Unidades Sanitárias, caso exemplar, na cidade de São Paulo, do Movimento de Saúde da Zona Leste (MSZL) nos anos 1970-80.
Essa influência era acompanhada pelo discurso do direito, defendido pelos órgãos internacionais de saúde, como em 1977, quando a Assembleia Mundial de Saúde lançou a consigna Saúde para Todos no Ano 2000 (SPT-2000), adotando uma proposta política de extensão da cobertura dos serviços básicos de saúde com base em sistemas simplificados de assistência. No ano de 1978, em Alma Ata, a Conferência Internacional sobre Atenção Primária à Saúde, realizada pela OMS, reafirma a saúde como direito do homem e constitui a Atenção Primária como estratégia privilegiada de operacionalização das metas da SPT-2000.
A bandeira levada pelo grupo que se forma em torno da Saúde Coletiva ficou conhecida como Reforma Sanitária. Paim a compreende como um fenômeno histórico e social, devendo ser analisada como uma “ideia-proposta-projeto-movimento-processo”. A concepção teórica de saúde do grupo girava em torno de dois conceitos, a determinação social das doenças e processo de trabalho em saúde. O entendimento de que a saúde e a doença na coletividade não podem ser explicadas exclusivamente pelas dimensões biológica e ecológica permitia alargar os horizontes de análise e de intervenção sobre a realidade. Enquanto componentes dos processos de produção, reconhecia-se que tais fenômenos eram determinados pelo social.
Tais posições ganham o debate público, inclusive dos movimentos sociais, com a VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, momento-síntese da Reforma Sanitária. Nesse mesmo ano, a Abrasco realiza o I Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, com a presença dois mil participantes, aprovando em sua plenária um texto com seis tópicos que integrariam o texto constitucional de 1988: o direito à saúde, o dever do Estado, as ações intersetoriais, o caráter público das ações de saúde, a criação de um Sistema Nacional de Saúde, o financiamento para o setor e a formulação de um plano nacional de saúde plurianual.
A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) é considerada um marco na história das conferências e para a saúde pública no Brasil. Realizada em 1986, ela foi a primeira Conferência Nacional da Saúde aberta à sociedade e seu relatório final serviu de base para o capítulo sobre Saúde na Constituição Federal de 1988, resultando na criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
Em 1986, o médico e deputado Sérgio Arouca preside a VIII Conferência Nacional de Saúde e, em seu discurso de abertura, deixa clara, entre tantos temas fundamentais, a necessidade de se formar outro profissional de saúde, mais próximo e em diálogo com a sociedade brasileira: “nós temos que romper o muro e o fosso do setor saúde e abrir canais de comunicação com a sociedade brasileira, inclusive, aprender a falar com ela. Nós temos que começar a transformar a nossa linguagem e mudar o nosso ouvido”. Em 1987, a socióloga Sônia Fleury define, para além de suas bases conceituais, a dimensão política do movimento sanitário em pauta, ou seja, a relação que se propunha estabelecer entre o cidadão, a saúde e o direito. Nesse contexto, é evidente a relevância histórica do momento, lembrando que a criação e importância histórica e decisiva do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988 aponta também, desde o início, limites identificados com a própria dificuldade da transição democrática vivida no Brasil a partir do que Silvia Gerschman chamou de uma “democracia inconclusa”, ou seja, um período de transição política negociada, em que parte da estrutura de poder anterior permaneceria nas entranhas da máquina estatal. Não à toa, o tema do privilegiamento do setor público enfrentava suas resistências.