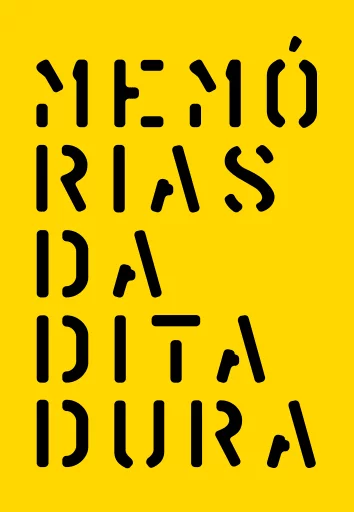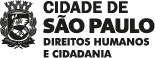Assim, se o país vivia um processo democratizante como símbolo do fim do período ditatorial, também teria de atentar para suas limitações históricas evidentes, aliadas às novas conjunturas econômicas e políticas neoliberais que defendiam a redução do Estado e o fim da proteção social de seus cidadãos, sendo oportuno lembrar que a definição última do SUS já não dependeria da Saúde Coletiva e de suas formas de participação, conforme apregoada pela Reforma Sanitária, ganhando cada vez mais espaço outros atores e instâncias na negociação de âmbito estatal e também contemplados na elaboração do sistema de saúde previsto constitucionalmente. Esse seria um dos desafios do SUS desde seu surgimento: conferir sentido democrático popular, a partir do direito dos cidadãos à saúde, quando se inscrevia no mundo e no Brasil com suas particularidades históricas, uma democracia oligárquica.
Tais sinalizações acompanham a Saúde Coletiva, que se vê atualmente sob o domínio de seus contextos, ora ampliando quadros, teorias e políticas de saúde, ora recuando, perdendo espaço para investidas de outras tecnologias concorrentes. O SUS e suas formas de existência são sempre o termômetro de seus limites, seus desafios e suas potencialidades. Talvez se possa verificar regionalmente como se deu o processo de recuo da Saúde Coletiva em torno da Reforma Sanitária nos anos de 1990. Em São Paulo, estado que teve dificuldades políticas e tecnológicas para implantar o SUS, inclusive em sua capital, se produziram tensões importantes ao campo da Saúde Coletiva, quer de base teórica, quer de base tecnológica, aprofundando-se as diferenças institucionais, distanciando-se grupos e suas óticas em torno da saúde. O refluxo dos anos de 1990 caminhou para uma busca cada vez mais academicista dos departamentos de medicina preventiva e social, enquanto os serviços preocuparam-se com a gestão. O apagamento das bandeiras da Reforma Sanitária foi inevitável.
Em seu A Reforma da Reforma: repensando a saúde, Campos GWS (1992) reflete sobre os caminhos do sistema público no Brasil. Esse estudo dá conta do desmoronamento que naquele momento se vinha inscrevendo numa agenda social e nas dificuldades da esquerda, em particular a da Saúde Coletiva. Nota-se, que essa crise decorre do declínio do socialismo, das bandeiras democráticas e da imposição de única saída civilizatória para a humanidade, ou seja, do sistema econômico em sua brutal e violenta conformação neoliberal. Estava claro, a partir de então, que havia uma ruptura histórica de grande dimensão, que redundaria nas inconclusões que assistimos atualmente, como crises políticas sistêmicas, ecológicas, desemprego, pandemias e endemias produzidas pelas desterritorialização de grupos e povos, guerras nacionais e internacionais e, sobretudo, a ascensão de movimentos de extrema-direita e neonazistas, ou seja, um contexto histórico pautado no que poderíamos chamar do “ódio à democracia e seus corolários.
Nessa direção, a saúde como um direito e proteção do cidadão espelha o momento, se apagando do universo do direito, a ponto de assistirmos no Brasil a catástrofe no enfrentamento de uma doença evitável, a COVID-19, matando mais de 650 mil pessoas, das formas mais inaceitáveis e violentas, fruto do descaso de certos governos e políticas negacionistas. Tecendo em 1991 suas considerações sobre a década que se abria, Eric Hobsbawm foi categórico em dizer que o mundo deveria mudar, pois corria o risco de explosão e implosão. Será que queremos ou estamos preparados para uma mudança radical? A sociedade quer e consegue a mudança diante de impasses tão profundos e decisivos?
[…] se a humanidade quer ter um futuro reconhecível, não pode ser pelo prolongamento do passado ou do presente. Se tentarmos construir o terceiro milênio nessa base, vamos fracassar. E o preço do fracasso, ou seja, a alternativa para uma mudança da sociedade, é a escuridão (Hobsbawm, E, 1995, p. 552).