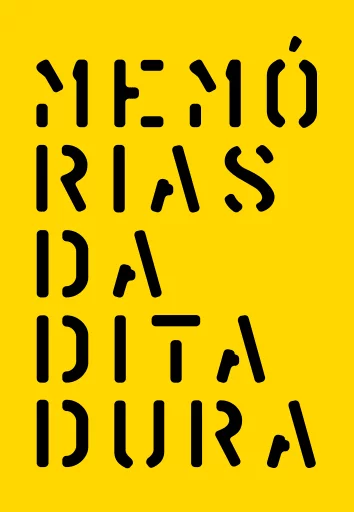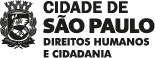De modo geral, quando pensamos no apoio civil à ditadura, tendemos a nos concentrar nos grupos políticos, empresários, imprensa e associações femininas. Todos foram, de fato, decisivos não apenas nas articulações golpistas, mas também ao longo da ditadura.
A ênfase nesses grupos, no entanto, pode obscurecer a participação relevante – ainda que não linear ou homogênea – de tantos outros segmentos da sociedade civil. A historiografia sobre a ditadura, muito plural e cada vez mais sofisticada, tem chamado atenção para a necessidade de compreender tais apoios não apenas em sua complexidade, mas também em sua diversidade, ziguezagues, contradições e ambivalências.
Assim, estudos importantes sobre associações estudantis de direita têm surgido, demonstrando que havia uma pluralidade de atitudes – muito além da resistência – nos meios estudantis. Também com relação aos trabalhadores (inclusive sindicalizados), a historiografia avançou. Assim, ao invés de tratá-los exclusivamente como vítimas ou resistentes, estudos mais recentes evidenciam que houve formas de acomodação, colaboração e até apoio ativo de parte do movimento sindical ao regime, especialmente nos seus primeiros anos.
Por outro lado, estudos sobre instituições como a Academia Brasileira de Letras (ABL), o Conselho Federal de Cultura (CFC) ou o longevo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) apontam para a existência de uma intelectualidade ativa e comprometida com o regime. Algo similar ocorre quando tomamos como referência os meios artísticos. Pois, se a música e o cinema, por exemplo, se constituíram em importantes formas de expressão de resistência, também é possível observar ali mais do que processos de acomodação: houve, em alguns casos, fascínio pelo processo de modernização do regime, que podia resultar em apoio ativo e obras de celebração da ditadura.
Na música, o caso mais célebre – embora longe de ser o único – é o da dupla Dom e Ravel, autores de músicas como Eu te amo meu Brasil, Só o amor constrói e Obrigado ao homem do campo, com letras ufanistas que foram extensamente apropriadas pela ditadura.
No cinema, tornou-se famoso o caso do cineasta Carlos Coimbra, diretor do filme Independência ou Morte. A película contava a história da Independência do Brasil a partir da figura de D. Pedro I e do 7 de setembro, em 1972, ano em que a ditadura comemorou com pompa os 150 anos da Independência. A produção de Coimbra passou a ser referida como “cinema de colaboração”, na medida em que tanto o diretor quanto o produtor do filme, Oswaldo Massaini, definiram Independência ou Morte como uma homenagem ao Sesquicentenário da Independência.
Filmete institucional celebrando o Dia da Pátria do ano de 1979. O vídeo contém uma cena do filme “Independência ou Morte”, dirigido por Carlos Coimbra em 1972. Produzido no contexto das comemorações do Sesquicentenário da Independência, o longa estava alinhado ao projeto ufanista da ditadura militar, que buscava legitimar-se como herdeira das tradições nacionais. Exibido em escolas e eventos cívicos, tornou-se exemplo do chamado “cinema de colaboração”, reforçando o discurso oficial do regime. Arquivo Nacional. Fundo Agência Nacional.