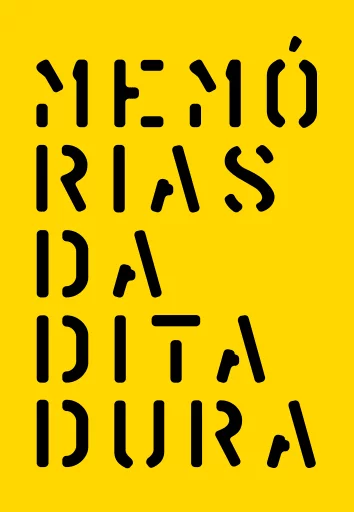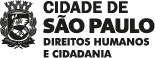Foram muitos os tentáculos jurídico-institucionais do regime. Na síntese feita pelo historiador Marcos Napolitano, a engrenagem repressiva se articulava em quatro níveis interligados. O primeiro atingia as esferas da organização política e da gestão do Estado brasileiro. A ditadura aparelhou, de alto a baixo, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, expurgando opositores entre militares de esquerda, burocratas, políticos e juízes. A dominação se fez por meio de uma bateria de mudanças na Constituição, Atos Institucionais e Complementares que corroíam a separação de poderes, assim como o Decreto-Lei nº 200/1967 blindou a administração pública.
Em camada abaixo, o regime procurou controlar a sociedade, suprimindo direitos civis e políticos, por meio dos aludidos Atos, mas também pela via da Lei de Segurança Nacional (LSN) e das leis que estabeleciam a censura prévia, restringiam a liberdade de associação, interferiam nos sindicatos e proibiam greves — em resumo, amordaçando movimentos sociais. Esse controle social era materializado em um terceiro âmbito, identificado com as polícias regulares Civis e Militares estaduais — tendo sido as Polícias Militares subordinadas ao Exército pelo Decreto-Lei nº 667/1969.
Por fim — e ainda mais importante —, a ditadura erigiu um sistema de terrorismo de Estado para a perseguição de organizações de resistência, fossem pacíficas ou armadas. Essa máquina era presidida pela lógica militarizada do combate contra o suposto “inimigo interno”, conforme pregava a Doutrina de Segurança Nacional (DSN) reinante nas Forças Armadas. O aparato contava com braços de vigilância e de aniquilação. Logo nos primeiros meses do regime, foi criado, pela Lei nº 4.341/1964, o Serviço Nacional de Informações (SNI), órgão de inteligência, conectado, nos anos seguintes, com os Centros de Informações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Também se inseriam nessa rede de espionagem e repressão a Polícia Federal e as polícias políticas — os antigos Departamentos de Ordem Política e Social (DOPS).
Em 1970, somaram-se a essa estrutura os Centros de Operações de Defesa Interna e os Destacamentos de Operações de Informações (DOI-CODI). Junto dos “esquadrões da morte” liderados por policiais, os DOI-CODI foram responsáveis pelas maiores atrocidades cometidas pela ditadura: interrogatórios sob tortura, estupros, sequestros, assassinatos, ocultação de cadáveres — em outras palavras, desaparecimentos forçados — e atentados, como o frustrado no Riocentro (1981). Condutas criminosas cuja prática foi generalizada contra presos políticos.
Nem mesmo a mais coercitiva norma instituída pelo próprio regime o autorizaria a cometê-las. Conforme recorda a historiadora Mariana Joffily, esses atos extralegais não foram isolados ou perpetrados de forma autônoma pelos agentes da repressão. Tinham respaldo de cima.Viabilizado pelo AI-5, o sistema DOI-CODI foi criado a partir do Conselho de Segurança Nacional e contou com o aval do presidente Emílio Médici (1969-1974). A legalidade — ainda que autoritária — e a clandestinidade atuavam de modo complementar. Por exemplo, o AI-14 restabeleceu no Brasil a ameaçadora pena de morte para crimes “contra a segurança nacional”, mas a punição após rito judicial nunca foi aplicada: as mortes de opositores se deram de forma clandestina e sumária.
Trecho da Ata da 41ª Sessão do Conselho de Segurança Nacional – 11 de julho de 1968
Documento secreto produzido meses antes da edição do Ato Institucional nº 5 (AI-5), no qual o regime militar já delineava um diagnóstico alarmista da conjuntura nacional, classificando-a como uma “Guerra Revolucionária” e propondo a adoção de medidas políticas, econômicas e repressivas “enérgicas e de grande alcance”. A ata exemplifica como o governo utilizava uma retórica jurídico-institucional para legitimar o aprofundamento da repressão e justificar a suspensão de garantias constitucionais — uma estratégia analisada no artigo como expressão do “uso perverso do Direito” por regimes autoritários.
Fonte: Arquivo Nacional. Ata da 41ª Sessão do Conselho de Segurança Nacional. Data: 11/7/1968. Código de referência: BR DFANBSB N8.0.ATA.4/1, f.1-38.
Enquanto promovia o terror de Estado, o regime manteve, entre 1968 e 1973, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. É claro: o órgão era inoperante e não obstou o projeto de violência de Estado, mas sua criação foi um mecanismo da ditadura em busca de legitimidade, como forma de resposta às denúncias do MDB e às cobranças da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que aderira entusiasticamente ao golpe de 1964.