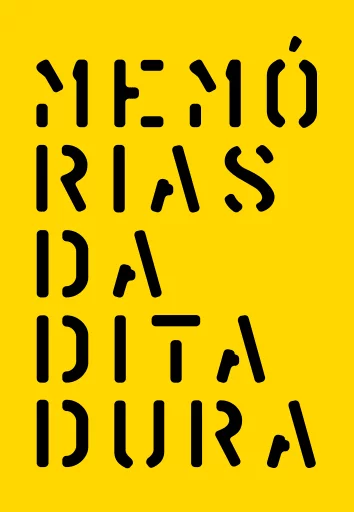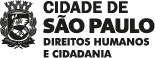Essas diferentes relações remetem a processos históricos abrangentes. A partir do século XX, na sociedade ocidental, a experiência da escolarização tornou-se central na vida de crianças e adolescentes, reunindo a perspectiva da aquisição de saberes com as sociabilidades, vivências e expectativas de futuro individuais e coletivas. No Brasil, a ditadura aprofundou um modelo de modernização econômica que exigiu uma mão de obra urbana e rural escolarizada para além do ensino primário e que compartilhasse dos princípios ideológicos do regime ditatorial. Em 1971 foi sancionada a Lei 5.692, que instituiu uma grande reforma educacional no país. A legislação instituiu o 1º grau com duração de oito anos, integrando o ensino primário e ginasial, além de abolir os exames de admissão e criar um 2º grau profissionalizante, que visava atender às demandas do mercado de trabalho em expansão, sobretudo nos centros urbanos.
Nesse contexto, foram incorporadas aos currículos do 1º e 2º grau as disciplinas Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil, as quais, conjuntamente com outras matérias escolares, difundiam os ideais nacionalistas e autoritários do regime ditatorial para o público escolar. A expansão do ensino público, preconizada na referida legislação para a população infantojuvenil pobre, ocorreu de forma precária, tanto em termos de infraestrutura escolar quanto de formação dos recursos humanos, contribuindo, assim, para a ampliação das desigualdades sociais no período. As crianças e adolescentes das camadas médias e das elites, por sua vez, geralmente estudavam em escolas privadas que possuíam ótimas instalações e professores qualificados (Zaluski, 2021).
Desde o início do período republicano brasileiro, um conjunto de discursos enunciados por médicos, juristas, pedagogos e jornalistas havia transformado a infância pobre em uma questão social. Em 1927, o Estado brasileiro sancionou o Código de Menores, que tinha como foco a infância considerada abandonada, delinquente e trabalhadora. Ações de natureza diversa, efetuadas por instituições públicas e privadas, foram desenvolvidas para essa população dos assim chamados “menores” nos diferentes estados da federação. A partir da década de 1940, foi instituído, em nível federal, o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), vinculado ao Ministério da Justiça, em cujas instalações, em diferentes partes do país, prevaleceram práticas repressivas. Inúmeras críticas foram feitas a esse modelo de assistência social, que perdurou por mais de três décadas no país.
Em 1964, visando se contrapor ao cenário anterior, as autoridades do regime ditatorial criaram a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), que tinha por objetivo principal formular, em nível federal, outra política assistencial para a infância pobre brasileira. Era de fundamental importância para a legitimidade e continuidade do regime ditatorial demonstrar que as suas instituições eram eficazes. A historiadora Camila Serafim Daminelli afirma que a história da entidade pode ser dividida em dois momentos: a “FUNABEM-promessa”, vigente até meados dos anos 1970, entendida como uma instituição burocrática e técnica que propunha soluções para o “problema do menor”; e a “FUNABEM-estigma”, presente na década de 1980, associada à imagem da institucionalização em massa de crianças e adolescentes pobres em grandes abrigos e à figura do adolescente que havia cometido uma infração (Daminelli, 2019).
No período, as principais mudanças na política de assistência social orientadas pelas diretrizes da FUNABEM estiveram associadas a dois processos. Observou-se um elevado número de confinamentos de crianças e adolescentes pobres nos grandes abrigos, justificados em função das condições de pobreza das famílias e de sua presumida “desestruturação”. Em muitos estados do país, o acolhimento dessa população seguiu sendo realizado em instituições de caráter privado ou religioso. A responsabilidade pelas ações voltadas para os adolescentes em conflito com a lei, por sua vez, foi transferida para os gestores dos estados da federação. Esses deveriam formular a política social com base nas Fundações de Bem-Estar do Menor (FEBEM), implementadas nos estados, incumbidas de administrar as instituições de contenção.
Para uma parcela das autoridades do regime ditatorial, o adolescente considerado em conflito com a lei era visto como um potencial “inimigo” do governo. O historiador Humberto Miranda afirma que um conjunto de violações de direitos humanos ocorria nas delegacias de polícia, bem como nas instituições de acolhimento e de confinamento (Miranda, 2014). Adolescentes em tal condição, de ambos os sexos, frequentemente sofriam torturas, castigos físicos, violências psicológicas, sexuais e de outras naturezas em instituições geridas pelo Estado brasileiro. As memórias escritas por Roberto da Silva e por outros ex-internos das FEBEM relatam esses tristes episódios (Costa Júnior, 2021).