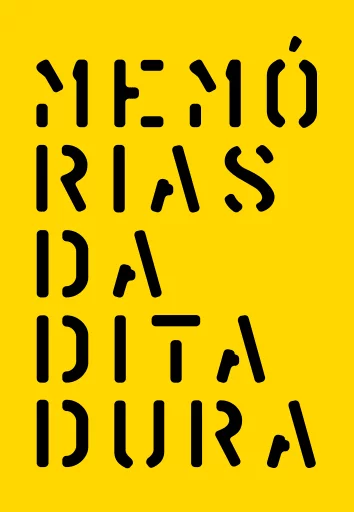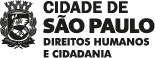Para além do aumento no preço de um insumo importante, o primeiro choque do petróleo (1973) provocou transformações no cenário internacional que, até então, seguia por um caminho de crescimento. A aceleração inflacionária provocada pela ação da OPEP foi respondida com um aumento das taxas de juros nos países centrais do capitalismo. Os efeitos recessivos na economia mundial afetaram as exportações brasileiras (SAES; SAES) e, consequentemente, o acesso às divisas estrangeiras necessárias para importações essenciais à intensa industrialização do período do “milagre”.
Em situações de incerteza como essa, normalmente os países adotam posturas cautelosas e conservadoras, aumentando juros e diminuindo gastos e investimentos. Contudo, o governo Ernesto Geisel (1974–1979) optou por um caminho diferente e apostou no aumento dos investimentos para contornar os efeitos de curto prazo da recessão econômica mundial. A dificuldade de obter dólares com exportações logo foi contornada pelos “petrodólares” – recursos oriundos dos ganhos nas exportações dos países da OPEP. Vale lembrar que, no contexto de recessão, poucos foram os países interessados em captar essas divisas (na América Latina, apenas Brasil, Argentina e México o fizeram), de modo que os juros, naquele momento, estavam relativamente baratos.
Nesse espírito, foi publicado, em 1974, o II Plano Nacional de Desenvolvimento, que definia as estratégias brasileiras para enfrentar os desafios do novo contexto. Tratava-se de continuar o crescimento econômico para completar o ciclo de industrialização a partir de três focos:
- infraestrutura (malha ferroviária e comunicações);
- estabelecimento de um setor de bens de produção (siderurgia, química pesada, metais não ferrosos e minerais não metálicos);
- energia (petróleo e derivados, energia hidrelétrica e alternativas ao petróleo – notadamente o etanol e a energia nuclear).
Documentário institucional da Agência Nacional sobre as obras da Rodovia Transamazônica, em 1970, com a presença do presidente Emílio Garrastazu Médici e do ministro dos Transportes, Mário Andreazza. A Transamazônica integrou o pacote de grandes obras do regime militar durante o chamado “milagre econômico”, simbolizando a expansão da fronteira agrícola e a ocupação forçada da Amazônia, dentro de um projeto desenvolvimentista que ignorava os impactos sociais e ambientais da construção.
Vale destacar que muitos desses investimentos foram realizados em grandes obras, com o intuito de materializar a ufania de um “Brasil Grande”, como, por exemplo, a Rodovia Transamazônica, a Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional, o complexo nuclear de Angra e a Ponte Rio-Niterói. A construção dessas grandes obras esteve permeada por denúncias de corrupção, ao contrário do defendido por grupos autoritários que ainda hoje idealizam o passado ditatorial brasileiro. Um célebre caso que ilustrou o problema foi o assassinato, em 1979, do diplomata José Jobim, que preparava um livro de memórias no qual relataria a corrupção na construção de Itaipu. O corpo do diplomata foi encontrado no Rio de Janeiro e estava pendurado pelo pescoço em uma corda de náilon branca, em cena similar à famosa foto de Vladimir Herzog.
Nesse sentido, é fácil imaginar que não existia corrupção em um período em que dissidentes eram assassinados ou em que os meios de comunicação e as instituições de controle estavam amordaçados. O historiador Pedro Henrique Pedreira Campos, especialista nas relações entre os governos militares e as empreiteiras brasileiras, tem defendido que o regime militar foi bastante propício a práticas corruptas justamente por conta da falta de transparência sustentada pela violência do regime.
Por fim, é interessante assinalar as muitas contradições da “marcha forçada” imposta por Geisel à economia brasileira. Por um lado, o país foi capaz de estabelecer uma cadeia produtiva completa e, mesmo em um contexto adverso, conseguiu melhorar a sua balança comercial (VELLOSO). Por outro lado, o novo choque do petróleo, em 1979, e o drástico aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, em 1981, demonstraram os limites de uma estratégia alicerçada na poupança externa. Os resultados foram anos de baixo crescimento econômico, aumento da dívida externa e uma explosão inflacionária como poucas vezes se viu na história.