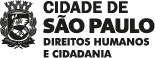Márcia Gazzarolli: ‘Não podemos deixar nossos filhos virarem estatísticas’
Coordenadora do Movimento Mães de Maio da Leste, Márcia Gazzarolli teve o filho torturado e morto em 2015. Ainda hoje luta para conseguir ao menos denunciar o assassinato. Ela encontrou na luta junto a outras mães um jeito de sobreviver.
por Jéssica Moreira
Do Nós, mulheres da periferia para o Memórias da Ditadura
Aos 62 anos, Márcia Gazzarolli é uma abraçadora. Em uma sala improvisada na parte baixa de sua casa, bexigas, cadeiras, água e café quente convidam a entrar. Na parede, letras cursivas encontram um banner alto e largo com os rostos de meninos e meninas. Não há dúvida: “aqui, os nossos filhos têm voz”. Estamos na sede do Movimento Mães de Maio da Leste.
São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. No dia 18 de março de 2015, a região mais populosa da capital paulista, com mais de 6 milhões de habitantes, tornou-se um espaço apertado e dolorido para Márcia. Naquele dia, as ruas e esquinas que compunham um mosaico de suas memórias, formavam agora uma geografia carregada de dor e saudade. Uma saudade chamada Renatinho.
Os olhos delineados de preto, logo se enchem. Mais de sete anos se passaram desde o assassinato à luz do dia do filho, mas sempre parece que foi ontem.
São águas de uma mãe saudosa. Saudosa em ver o filho entrando pela porta e pedindo lasanha no almoço ou bolacha recheada de sobremesa. Saudosa daquele sorriso largo que amava empinar pipa e sentar na calçada e “passar o tempo conversando”, como cantou o grupo de rap da região Doctor MC’s.
Para ela, “a lágrima é o meio de tirar aquela coisa ruim que a saudade faz no coração de uma mãe”.
Uma vida em movimento

Em dia de encontro com mães cujo os filhos foram vítimas do Estado, Márcia realiza um ritual. Faz o download das fotos dessas mulheres com seus filhos, imprime e cola em um mural na porta. Também separa uma planta para cada uma. Mesmo vivendo seu luto, encontra um jeito de abraçar essas mulheres que vivem dores semelhantes às dela.
“Convivo com várias mães e tenho um carinho por todas, porque a dor que a gente sente é dor que só a gente pode entender. É uma dor muito grande perder um filho, ainda mais pela violência: por pessoas que, na verdade, deveriam estar nos dando segurança”.
A prática acolhedora talvez venha da infância. A primeira morte de Márcia foi aos cinco anos. Sua mãe, Margarida Alves, já havia dado à luz a 11 crianças. Na dieta do último, a insuficiência respiratória em decorrência de tuberculose pulmonar, deixaram-a mais fraca. Em uma época em que não havia cura para a doença e a família não tinha condições de pagar por um hospital, a morte era um destino quase certo.
“Estava bem próxima do local, mas até chegar no portão parecia tão distante. A hora que eu cheguei já estava na maca, entrando na ambulância. Foi a última vez que vi minha mãe. Dali, ela morreu”.
As tias e pessoas conhecidas se dividiram para cuidar das crianças por alguns meses. Nunca se esquece do acolhimento de Dona Samira, onde permaneceu até o pai, Silvério Gazzaroli, vir buscá-la. Quando conseguiu se organizar, o pai uniu os filhos outra vez e todos se mudaram para Jacareí, interior de São Paulo.
Ainda em um processo de sofrimento pela morte da esposa, Silvério encontrou no álcool um refúgio, o que causou desentendimentos com os filhos. A família voltou para São Paulo. Os irmãos mais velhos alugaram uma nova casa longe do pai.
Márcia passava horas na máquina de costura produzindo bandeiras e outros adereços de time junto aos irmãos. Foi assim que conheceu José Ferreira, um dos vendedores. Ela tinha apenas 16 anos, mas a cobrança dos mais velhos, unida à falta de liberdade em sua casa, culminou na vontade de se casar com o namorado.
Foram felizes nos três primeiros anos de relacionamento. Michele Adriana, Lilian Regina, Willian Martins e Robson Eduardo foram frutos desse período. Mas não demorou muito para José mostrar uma outra face.
“Conheci a violência doméstica, mas fui dando várias chances para ele. Fomos morar em Santa Isabel. Eu dando chances para termos uma vida melhor, com quatro filhos pequenos, foi quando eu tive uma depressão, fiquei psicologicamente abatida”, conta.
Mesmo diante de um ciclo de violências, Márcia ainda queria um recomeço. Sem que soubesse, isso estava prestes a acontecer, mas não exatamente no relacionamento.
O (re)nascimento de Renatinho
Era fim de janeiro de 1994. Márcia já havia parido quatro vezes, antes de parir a quinta. As contrações ou as mais de 42 semanas de espera deram lugar ao aviso de uma amiga: “Você ficou sabendo da Shirley? Ela teve um neném, mas ela não cuida dele, nasceu com equimose. Ele fica doente, ela nem dá banho”.
Preocupada, Márcia saiu correndo em direção ao endereço da sobrinha e do bebê de pouco mais de um mês. Quando chegou, a encontrou no bar. “Cadê seu neném?”, perguntou. “Ele tá lá em casa, eu vou dar ele. A mulher vai vir buscar amanhã. Se ficar comigo, ele vai morrer”.
Quando abriu a porta e viu aquele bebê miúdo, que cabia quase inteiro em sua mão, Márcia pariu pela quinta vez. “Eu cheguei na casa dela, ele estava no berço chorando. Parece que sentiu que Deus tinha me levado lá. Eu peguei no colo. Estava com a sonda na barriguinha. Aí eu falei assim: ‘se você for dar ele pra alguém, dá pra mim. Eu sou sua tia. Vou criar ele com o maior amor do mundo’”.
Ao lado do berço da criança, ela renasceu Márcia e renasceu mãe. Lembrar desse dia traz de novo a água da saudade: ela amou Renatinho desde o primeiro momento que o viu.
“A partir do momento que eu levar ele pra casa, você não é mais mãe dele, eu vou ser mãe dele”, disse à Sobrinha Shirley. O diálogo foi o suficiente para firmar um acordo amigável entre as duas mulheres, que nunca mais se viram.
‘Ele tem cara de Renatinho’
Márcia chegou em casa cheia de alegria. Sua filha mais velha, Michele, já era uma adolescente de 15 anos. Ao olhar para o menino, o rebatizou: “Ele não tem cara de Peterson. Ele tem cara de Renatinho. Vamos chamar ele de Renatinho”.
O novo nome pegou em toda a família, que agora tinha um caçula para mimar. Os cinco primeiros anos foram difíceis. A doença com a qual o menino havia nascido o impedia de comer. “Ele nasceu com atresia do esôfago. A gente tinha que alimentar ele pela sonda. Tinha que encher uma seringa com 20 ml de leite. Foi assim que cuidei dele por bastante tempo. O líquido foi para o pastoso. Até começar a comer pela boca foi um processo de seis anos”.
Nas fotos de criança, é impossível não reconhecê-lo: é o mesmo sorriso largo das imagens da adolescência. Sorriso que abraça a mãe, as irmãs, os irmãos e as sobrinhas.
Mesmo depois de crescido, Renatinho continuava sendo uma criança grande, que adorava brincar com as sobrinhas, bater uma bola e escutar seu cantor favorito, Bob Marley.
Na escola, não dava trabalho. Não era mal-educado com a professora, nem brigava com os colegas de turma. Mas a verdade, conta Márcia, é que o colégio não era interessante para o menino. Assim como vários outros em sua idade, Renatinho evadiu, parando de estudar ainda no 6º ano do Ensino Fundamental.
Durante a infância, o pai foi preso. Mesmo ficando seis anos afastado da família, Márcia e Renatinho o visitavam na prisão. Separaram-se assim que José foi liberto, mas continuaram próximos por conta do filho.
“O Renatinho foi muito, muito amado. Eu tenho quatro filhos biológicos e o Renatinho era meu filho adotivo. É uma coisa tão linda. Eu falo: Deus deu ele pra nós cuidarmos. E ele precisava de nós. E isso fez a gente amar ainda mais ele”.
Mesmo o pai contribuindo nas despesas de casa, o menino queria seu próprio dinheiro. Trabalhou como ajudante de pedreiro e também em uma auto elétrica, além de ajudar a mãe com as entregas de marmita que ela cozinhava para vender.
‘Ele sempre foi meu companheiro’
“Ele era meu companheirinho pra tudo. Todo mundo gostava dele”. Conta Márcia, em uma tentativa de reafirmar a inocência e a biografia do filho, assim como fazem diversos pais e mães também vítimas de violência. “Nunca tive uma reclamação do Renato no portão da minha casa. Nunca foi polícia no portão da minha casa”.
A adolescência de Renatinho foi a fase mais complexa para Márcia. O garoto continuava respeitando a mãe e nunca sequer levantou a voz para ela ou os irmãos. Ela sabia, no entanto, que o filho precisava de ajuda profissional, diante da dependência química.
“Eu e o pai dele tivemos uma luta acirrada. Internamos ele. Não usava crack, era cocaína. Descobrimos, foi uma luta incansável. O Renatinho fazia mal pra ele, mas pra mais ninguém. Renato só sabia rir”.
Houveram tentativas de internação em clínicas de reabilitação, mas sem o resultado esperado por Márcia. Desesperada, vendeu as máquinas de fazer marmita para bancar uma clínica mais qualificada. “Aí eles deixaram a estadia de R$1200 para R$700. Vendi minhas máquinas e consegui manter ele nessa clínica durante seis meses”.
Após sua saída, Márcia o considerava curado. “Ele falava ‘mãe, eu não precisei da clínica pra eu usar droga, eu vou sair dessa. Um dia, a senhora vai ver, eu vou parar, eu tenho fé em Deus que eu vou parar’. Eu via nos olhos dele que queria parar, mas o vício era muito forte, e eu era a pessoa que mais entendia, ninguém entendia. Ninguém entende uma pessoa viciada”.
‘Fizeram o Renatinho comer maconha’
Pouco tempo depois da reabilitação, Márcia viu um machucado no rosto do filho. O menino, astuto, disse que havia batido a cabeça na mesa sem querer. Márcia achou estranho, mas não entrou em detalhes.
Só depois de sua morte descobriu: um policial havia dado uma coronhada em Renatinho. Os dias se seguiram, mas a marcação com o menino não.
“O Robson, meu outro filho, falou assim: ‘mãe, um dos policiais que participaram da morte do Renato, foi quem bateu nele’. Eu achava que ele tinha batido na mesa. Ele não quis me contar, mas a polícia tinha batido nele e até feito ele comer a maconha que estava fumando. Então, eu acredito que o Renatinho já estava marcado pra morrer”.
‘Meu filho foi torturado’
Eram 15h30 da tarde, na Zona Leste. O lava-rápido estava funcionando a todo vapor. As pessoas na rua ou no portão. Pelas contas de Márcia, o filho voltava da casa de uma amiga. Não carregava nenhum tipo de droga, tampouco havia cometido algum delito.
Passar em uma rua da mesma região onde cresceu, no entanto, foi o suficiente para Renatinho ser abordado, em plena luz do dia, por um grupo de policiais.
Segundo testemunhas que hoje preferem não se identificar, Renatinho estava simplesmente caminhando quando o arrastaram para uma rua com menos movimento e lá o encheram de socos e chutes.
O garoto gritava. “Vocês me conhecem, pô, vocês me conhecem”. Os gritos também foram ouvidos mais tarde pela própria Márcia, que teve acesso às imagens feitas no celular de uma testemunha. “Viram muita pancada, viram rasteira, ele caiu de cara no chão. Ali, ficaram uns três em cima dele”, conta a mãe.
Um dos conhecidos chegou a ver o momento em que a polícia o jogou no chão encostando algo em seu corpo que o fazia tremer. “Uma testemunha que hoje não quer ser testemunha, porque tem medo, na época, falou que viu passando um negócio no corpo do Renato, e o Renato pulava no chão, eu acredito que era choque”.
“Meu filho foi torturado. Torturado. Torturado”, repete Márcia na mesma sentença, para enfatizar que a tortura que tanto falamos remetendo aos tempos da Ditadura Civil-Militar (1964-1985) continua entre nós, principalmente nas periferias. Renato ainda tinha vida quando entrou na viatura. “Eles falam que chegou ainda com vida no hospital, mas eu acredito que o meu filho chegou no hospital sem vida”.
Márcia estava do outro lado da cidade nesse dia. Ela dormia na casa da irmã durante a semana para conseguir trabalhar na Feirinha da Madrugada, no Brás, e terminar o Ensino Médio simultaneamente. A nora telefonou para a irmã de Márcia, que deu o recado na hora que ela chegou da escola: “Na hora que minha irmã falou eu gritava. Eu fiquei sem chão nesse dia”.
‘Eu não podia deixar quieto essa morte’

Passados seis meses da morte do filho, o ex-marido, José, faleceu em decorrência de um câncer no fígado. Os lutos de Márcia se somavam e ela se viu em uma profunda depressão.
“Durante uns três anos eu vivi na escuridão. Depois da morte do Renato, eu só via o cinza, eu num via cores. Minha filha, Michele, que começou a dar entrada em processos. Mas a depressão também pegou ela”.
Para continuar lutando por justiça por seu filho que Márcia começou a estudar tudo que se relacionava à morte do filho. “Eu não podia deixar ficar quieto essa morte. Quanto mal esses policiais já não fizeram? Tantas mães já não choraram por causa deles?”.
A família sabia que tinha o direito de exigir um laudo cadavérico do filho, que é um tipo de laudo mais detalhado e que pode mostrar as origens da morte. “Eu li muito sobre isso. O laudo mostrou que Renatinho apresentou a mancha de tardieu [ segundo a Infopédia, são pequenas manchas arredondadas de sangue coagulado, que podem surgir em casos de morte por asfixia]”, conta Márcia. “Ele teve sufocamento no tórax, hemorragia em todos os órgãos do corpo e traumatismo craniano. Como que meu filho não foi assassinado?”, questiona Márcia.
Márcia conta apenas com a análise do promotor de justiça. Só é possível ter um advogado pessoal a partir do momento que o caso for denunciado. Coisa que Márcia ainda não conseguiu, mesmo com todas as provas. “Num foi denunciado ainda. Sete anos e não foi denunciado. O promotor falou pra mim: ‘os casos chegam aqui já mastigados pela delegacia, para o arquivamento”.
O caso de Renatinho só não foi arquivado porque a mãe juntou todas as provas e imagens do local do crime, além do laudo cadavérico completo.
“Agora, o promotor pediu outro laudo. O perito fala ‘nós não podemos afirmar mas não podemos descartar que foram os policiais que causaram a morte’. Quer dizer, tô sem respostas ainda. Na hora que ele entrou na viatura ele não tinha nada, depois meu filho apareceu morto no hospital com vários hematomas com traumatismo, com hemorragia. Meu filho não foi morto? Não foi assassinado? Eu não aceito isso. Vou lutar até o fim da minha vida”.
‘É a luta que me mantém viva’
Muitas vezes, ao andar pelas ruas, Márcia via um rapaz de costas parecido com Renatinho, corria e pegava em seu braço. Quando se dava conta, pedia desculpas e dizia que parecia seu filho. Era como se ela, a algum momento, ainda fosse o encontrar vivo.
“Era o que eu queria, mas aí o tempo foi passando e eu vi que aquilo era impossível. São 7 anos agora, mas parece que foi ontem. Aquela dor sangrenta, que não dá pra explicar, parecia que me sufocava, que eu iria morrer, aquela dor sufocante, que sangra. Hoje,não tenho aquela dor sangrenta dentro do meu coração. Existe aquela saudade, aquela dor da saudade, aquela dor da falta, aquela dor que sangrava”.
Foi no Facebook que ela conheceu outras mães que haviam perdido seus filhos pelas mãos do estado ou ainda por outras causas.
“Um dia eu fui ao CONDEP (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana), onde encontrei o Fuca (ativista em Direitos Humanos). Ele sentou do meu lado e fiquei pensando que era um policial. Mas não. Ele trabalhava com Direitos Humanos e pessoas que sofrem com violência policial. Papo vai, papo vem, ele falou que ia ter uma atividade da Cidade Tiradentes, extremo leste. Resolvi ir”.
Foi nesse dia, em dezembro de 2016, que Márcia encontrou pela primeira vez Débora Silva, criadora do Movimento Mães de Maio. O filho de Débora foi assassinado durante os Crimes de Maio de 2006, quando mais de 500 jovens das periferias foram assassinados frente ao conflito entre o crime organizado e o Estado.
Desde então, Márcia entendeu que era possível também organizar sua dor junta outras mães iguais a ela. “É a luta que me mantém viva. Eu tive um câncer de pele em 2017, devido ao emocional. Mas Deus tem um propósito na vida da gente, que é a luta”.
Uma das mães deu a ideia de se organizarem no Cedeca Sapopemba. Ao todo, seis mães se reuniam para trocar experiências. Como em todos os movimentos, neste também havia divergências, o que fez Márcia se afastar do grupo.
Já em 2019, um tanto perdida e sem a rede de acolhimento, Márcia encontrou nas palavras de outro ativista, William Marques, o incentivo para continuar lutando. “Você não pode parar, você tem que continuar, você vai fazer a diferença”, dizia ele.

“Tinha as Mães de Maio do Cerrado. Mães de Maio de Minas Gerais. Tinham as Mães de Maio de Salvador. Eu achei legal a ideia. Foi quando mudamos o nome da página de Mães em Luto da Leste para Mães de Maio da Leste. E o William fez logo pra mim, mãos com o mapa pingando sangue”.
Ela se convenceu e articulou junto à Débora Silva a criação do Movimento Mães de Maio da Leste, o qual coordena desde o nascimento, também em 2019. São cerca de 20 mães de diferentes bairros da zona leste paulistana. A participação não é obrigatória, já que Márcia sabe que o luto é cíclico e que nem todas conseguem participar de maneira contínua.
“Eu queria que todas as mães fossem que nem eu [de lutar por justiça]. Mas tudo tem sua hora. Todas têm seu luto. Todas têm seu tempo. A gente não pode forçar nenhuma mãe a ir pra luta. As que estão no grupo, todas fazem a diferença. Tem muitas ainda que não estão preparadas para lutar. Mas eu nunca vou parar e vou puxar essa sementinha. Vou deixar aqui plantada, por mais que não consiga justiça pro meu filho eu sei que tem uma mãe ou outra que vai ficar aí continuando. Lutando”
Márcia começou a fazer de sua própria casa o espaço de acolhida das mulheres. No lugar onde fizemos a entrevista, as paredes e cartazes falam por si: aqui é um espaço de dor, mas também de memória.
“Eu tô pra aqui dar uma palavra de carinho, um abraço, isso que elas gostam. Eu não vou forçar ninguém a ir gritar. Quando tem essas reuniões, é muito gratificante para todas as mães. É um acolhimento gostoso. É onde as mães podem se abrir, falar daquele filho que não tá mais lá. A família da maioria delas não quer que toque no assunto dentro de casa. O espaço com outra mãe é o espaço para desabafar, igual eu tô fazendo com vocês hoje”, disse para a equipe do Nós, mulheres da periferia.
Na semana da realização da entrevista, Genivaldo de Jesus, um homem Negro, havia sido asfixiado dentro do carro da Polícia Federal em Sergipe. No Rio de Janeiro, na Penha, uma chacina deixou mais de 25 pessoas mortas. Questionada se ela via ou não o noticiário, Márcia é enfática:
“É a realidade que está acontecendo não só no nosso país, como no mundo. Realidade que não aceitamos, mas nós somos ainda minoria. Para mudar esse sistema, tem que mudar o Judiciário e o Ministério Público. Enquanto não mudarmos o sistema, nós vamos continuar vendo isso. Somos uma sementinha. Pouco podemos fazer, mas o pouco que podemos fazer já é muito pro mundo”.

“Sempre falo pras mães: vocês têm que falar, não podem deixar a história morrer. Nosso filho que foi morto vai ficar só na estatística se a gente não falar. A gente não pode deixar só na estatística. Não pode deixar morrer a história de nossos filhos. Quantos não foram mortos há anos e hoje ninguém fala mais? São mortes que estão sendo esquecidas. A mãe não pode deixar isso acontecer. Se eu viver vinte anos, por vinte anos eu vou contar a história do Renato eu vou falar.”
Agradecimentos
À Márcia Ganzarolli, por nos confiar sua história e de seu filho, Renatinho. Ao articulador e defensor de Direitos Humanos, Danilo César, por nos apresentar a história de Márcia e demais trajetórias que devem ser visibilizadas.