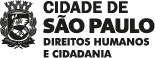O Cinema Novo tinha conseguido um reconhecimento inédito para o cinema brasileiro, consagrado em festivais importantes, como Veneza e Cannes. Embora agradasse plateias estudantis e intelectuais, ainda carecia de maior capilaridade entre o público de classe média.
O Estado dominado pelos militares, por sua vez, sabia que não podia sufocar completamente o cinema brasileiro, já cercado pela grande indústria de Hollywood, que dominava o mercado. Era preciso apoiar a indústria do cinema, sempre evitando que ela radicalizasse suas críticas ao regime. Para isso mesmo é que havia a censura.
Como os melhores e mais reconhecidos cineastas eram de esquerda, o regime se rendeu ao pragmatismo. Passou a financiar obras, sobretudo a partir de 1975, mesmo que elas não fossem a expressão pura da ideologia conservadora dos militares. A Embrafilme, órgão estatal fundado em 1969 que distribuía e produzia filmes brasileiros, desempenhou um papel importante na conquista de mercado para os filmes nacionais.
Os impasses sobre como falar do processo de modernização e de experiência autoritária pelo qual passava o Brasil foram radicalizados pelo chamado “Cinema Marginal”, alternativa dos cineastas com poucos recursos ou apoio governamental . Os marcos dessa tendência foram os filmes O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla, Matou a Família e foi ao Cinema, de Júlio Bressane e A Margem, de Ozualdo Candeias.

Nesses filmes, a linguagem do humor e do grotesco era utilizada como base de novas alegorias sobre o Brasil, considerado um país absurdo, sem perspectivas políticas e culturais. Neles, não havia personagens heroicos ou dignos. Todos pareciam impostores e alucinados. As classes populares eram mostradas como grotescas e de mau-gosto, vitimadas pela desumanização da sociedade e sugadas pelo sistema capitalista. O herói não era mais o operário consciente, o camponês lutador ou o militante abnegado de classe média, mas o “marginal”, o pária social, o artista maldito, o transgressor de todas as regras.
Os cineastas ligados ao Cinema Novo, que em princípio recusaram tanto o cinema comercial quanto o radicalismo do cinema marginal, também foram em busca de novas expressões. Nesse processo até conseguiram ampliar seu público. Em 1969, Glauber Rocha ganhou o prêmio de melhor direção em Cannes, com O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro.
Nelson Pereira dos Santos, outro diretor consagrado, conseguiu realizar um dos mais importantes filmes da década, chamado Como era gostoso o meu Francês (1971). O filme é uma releitura da antropofagia cultural, tema em voga naquele momento. Se Macunaíma (Joaquim Pedro de Andrade), sucesso de 1969, era uma interpretação tropicalista do anti-herói de Mário de Andrade, o filme de Nelson Pereira, sutilmente retoma um viés crítico à tendência de abertura da cultura brasileira em relação às influências externas. Para isso, o filme veicula alusões sobre a derrota política de 1964 e os impasses da guerrilha de esquerda em curso no país.

Inspirado na saga do alemão Hans Staden, que no século XVI passou quase um ano entre os Tupinambás, o filme muda o destino do personagem (nesse caso, um francês). Na vida real, Staden escapou de ser devorado pelos índios, enquanto no filme, o herói civilizador estrangeiro é comido, mas, antes de morrer, profere uma espécie de maldição contra os brasileiros que o devoraram.
Por outro lado, o ano de 1972 assistiu a duas importantes produções do cinema nacional. Os filmes Independência ou Morte, de Carlos Coimbra, e Os Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade, mostravam leituras diferentes de eventos e personagens históricos oficiais.
O primeiro filme assumia o discurso da história oficial, narrando os fatos de maneira linear e simplista, enfatizando os amores do imperador e tentando imitar o luxo das produções estrangeiras. Já Os Inconfidentes foi realizado dentro de uma concepção de cinema de autor, de produção barata e despojada. Utilizava-se do tema da Inconfidência Mineira para discutir a crise na esquerda brasileira e sua fracassada opção pela luta armada contra o regime militar. No filme, os revolucionários/inconfidentes se perdiam em ilusões de conquista do poder, projetos utópicos e discursos vazios, ao mesmo tempo em que se isolavam da população e dos trabalhadores (no caso, simbolizados pelos escravizados).
Um outro gênero cinematográfico surgiu no início dos anos 1970 e ficou conhecido como pornochanchada. Abordando o tema da sexualidade de uma forma mais questionável, do ponto de vista estético e dramático, esses filmes eram produções muito baratas, feitas em estúdios improvisados, com atores e atrizes desconhecidos, a maioria deles sem talento dramático, mas com alguma beleza física.
As histórias eram variações dentro do mesmo tema: a traição conjugal, as estratégias de conquista amorosa, as moças do interior que se “perdiam” na cidade grande, as relações entre patrões e empregadas ou entre chefes e secretárias. Curiosamente, nem a censura oficial, nem os cineastas de esquerda gostavam dessa estética, julgada imoral pela primeira, e alienada e grotesca pelos segundos.
Na segunda metade dos anos 1970, o cinema brasileiro, apoiado pela Embrafilme, conseguiu uma razoável penetração no mercado nacional e até no internacional. Foi exercitada em várias produções uma interessante conjugação entre um tipo de cinema “de autor” (com linguagem mais pessoal e artesanal) e um mais “industrial” (com filmes tecnicamente bem feitos, com grande esquema de encenação). Essa prática parecia reverter a tendência à falta de público crônica que o nosso cinema sofria.
Nesse sentido, os filmes de Carlos Diegues, Xica da Silva (1975), e Bruno Barreto, Dona Flor e seus dois maridos (1976), foram os principais referenciais da época. Este último, aliás, se tornou na época o filme brasileiro mais visto de todos os tempos. Mesclando humor, erotismo e figurinos luxuosos, essas produções se tornaram grandes sucessos de bilheteria, até pelo fato de sugerirem uma abordagem mais leve da história, dos problemas e dos costumes brasileiros. Nesse sentido, sinalizaram outro caminho para a produção cinematográfica diferente do Cinema Novo e retomaram a um nível de produção mais sofisticado, a tradição do humor e da “chanchada”.
Uma das grandes revelações dos anos 1970 foi o diretor de cinema Hector Babenco. Argentino radicado no Brasil, fez dois filmes impressionantes sobre a realidade social brasileira: Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (1978) e Pixote, a lei do mais fraco (1980). Mergulhando na vida de marginais, adultos e mirins, Babenco construiu uma denúncia hiper-realista sobre o sistema carcerário e sobre a lógica de exclusão e violência entre crianças e adolescentes abandonados, produzidas pela desigualdade socioeconômica e aliadas à falta de cidadania.
No final da década, Cacá Diegues realizou Bye-Bye Brasil (1979), que procurava conciliar crítica social e política com uma linguagem mais leve e bem humorada. O filme, sucesso de público e de crítica, contava a história de uma caravana de artistas pobres, a “Caravana Rolidei”, que percorria o interior do Brasil. A partir desse tema, Diegues apresentava um balanço crítico da modernização aliada aos princípios conservadores da sociedade brasileira dos anos 1970, plena de disparidades regionais e sociais, e os efeitos da indústria cultural no Brasil profundo.

Já próximo ao final do regime militar, o cinema brasileiro começou a construir uma memória fílmica da ditadura, sobretudo em filmes ambientados nos anos de chumbo. Em 1982, Roberto Farias dirigiu Pra Frente Brasil, que mostrava, com todo o realismo possível, a tortura que um cidadão comum e inocente, confundido com um “terrorista” de esquerda, sofria nas mãos de paramilitares. Mesmo evitando incriminar diretamente as Forças Armadas por toda aquela violência mostrada no filme, a obra causou muita polêmica e quase foi censurada.
O cinema documental também foi um importante espaço de reflexão a respeito da ditadura, sobretudo a partir dos anos 1980, conseguindo grande sucesso de público, com filmes como Jango (Silvio Tendler, 1984) e Cabra Marcado para Morrer (Eduardo Coutinho, 1984). O primeiro retomava a trajetória política e pessoal do presidente reformista derrubado em 1964, enquanto o segundo mergulhava nos vários caminhos trilhados pelas classes populares depois do golpe e da repressão que se abateu sobre militantes operários e camponeses.
Depois da crise dos anos 1980 e do começo dos anos 1990, os temas ligados à ditadura militar voltaram a inspirar dezenas de filmes brasileiros, não apenas no plano do documentário, mas também da ficção.