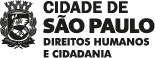O Golpe de 1964 foi realizado por uma coligação de forças e interesses, composta pelo empresariado brasileiro, por latifundiários – proprietários de grandes parcelas de terras –, e por empresas estrangeiras instaladas no país, sobretudo aquelas ligadas ao setor automobilístico. O movimento contou com a participação de setores das Forças Armadas, aos quais a oficialidade acabou aderindo.

A Igreja Católica contribuiu para disseminar o medo do governo de Jango entre a população e arrastou multidões às ruas, clamando por liberdade, manifestações que também serviram de justificativa para o golpe militar contra as liberdades democráticas.

A situação da política interna no Brasil criava todas as condições para um golpe, mas o encorajamento do governo dos Estados Unidos talvez tenha sido fator decisivo. Na preparação da tomada de poder, a diplomacia norte-americana, comandada por Lincoln Gordon, embaixador dos EUA no Brasil, praticamente coordenou a conspiração entre empresários e militares, dando garantia de apoio material e militar.
Em 31 de março, as tropas começam a se deslocar de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Na mesma data, teve início a Operação Brother Sam, da Marinha dos EUA, para apoiar o golpe que iria derrubar o governo constitucional, situação militar que se resolveu internamente, pois não houve resistência organizada.
Esboçou-se alguma resistência no meio sindical e no movimento estudantil, entretanto, essa resistência foi desorganizada e desestimulada por João Goulart que, por saber da ameaça de intervenção estadunidense no país, não resistiu quando foi do Rio de Janeiro, local estratégico, para Brasília e, dali, para o Rio Grande do Sul. Ainda houve alguma discussão entre Jango e Leonel Brizola, se era possível resistir a partir do Rio Grande do Sul, mas o presidente não assumiu esta opção. Como muitos outros, Jango achava que seria um “golpe passageiro” e, dali a alguns anos, novas eleições seriam convocadas. Afinal, fora assim em 1945 e em 1954, nas intervenções militares depois Getúlio Vargas.

Desde o início a ditadura militar buscou ter um aparato legal como forma de se institucionalizar e se legitimar perante a opinião pública, sobretudo a liberal, que tinha apoiado a destituição de Jango. Nesse sentido, o golpe contou com apoio do Congresso Nacional e de juristas, e foi formalizado na madrugada do dia 2 de abril, no Congresso Nacional, mas sem amparo na Constituição, pois o cargo foi declarado vago, enquanto o presidente continuava no território nacional, sem ter renunciado nem sofrido impeachment, sendo que somente numa dessas três circunstâncias — além da morte — isso poderia acontecer.
O presidente da Câmara, deputado Ranieri Mazilli, foi empossado como presidente interino. Os políticos golpistas tentaram assumir o controle do movimento, mas foram surpreendidos: os militares não devolveram o poder aos civis, sinalizando que tinham chegado para ficar. Imediatamente criaram um Comando Revolucionário, formado pelo general Costa e Silva (auto nomeado ministro da Guerra), o almirante Rademaker, e o brigadeiro Correia de Melo.
Chamar a deposição de João Goulart de “golpe” ou de “revolução” revelou a linha ideológica da pessoa. Para a direita, sobretudo militar, o que estava em curso era uma revolução que iria modernizar economicamente o país. Para a esquerda e para os setores democráticos, não havia dúvidas: tratava-se de um golpe de Estado, um movimento de uma elite, apoiada pelo Exército, contra um presidente eleito. A historiografia convencionou chamar o acontecimento de golpe, pelo caráter antirrevolucionário e antirreformista do movimento civil-militar que derrubou Jango.

No dia 9 de abril de 1964, declarando que “a revolução vitoriosa se investe no exercício do Poder Constituinte”, esse comando baixou o primeiro Ato Institucional, que convocou o Congresso a eleger um novo presidente, com poderes ampliados. No mesmo dia, o Congresso, já amputado em 41 mandatos cassados, submeteu-se ao poder das armas, elegendo o general Humberto Castelo Branco à presidência. Entre os deputados federais cassados nesta ocasião, estavam Leonel Brizola, Rubens Paiva, Plínio Arruda Sampaio e Francisco Julião.
O movimento militar dava seu primeiro passo. Um movimento que se impôs com a justificativa de deixar o Brasil livre da “ameaça comunista” e da corrupção, e que desde o início procurou se institucionalizar. Dessa forma, pretendia criar uma nova “legalidade”, que evitasse as pressões da sociedade e do sistema político-partidário sobre o Estado, considerado como um espaço de decisão política acima dos interesses sociais, pretensamente técnico e administrativo, comandado pelos militares e pelos civis “tecnocratas”.

Entretanto, o primeiro Ato Institucional já configurava o novo regime como uma ditadura. Afastava explicitamente o princípio da soberania popular, ao declarar que “a revolução vitoriosa como Poder Constituinte se legitima por si mesma”. Dessa forma, concedeu amplos poderes ao Executivo para: decretar Estado de sítio e suspender os direitos políticos dos cidadãos por até 10 anos; cassar mandatos políticos sem a necessária apreciação judicial; suspender as garantias constitucionais ou legais de estabilidade no cargo, ficando assim o governo livre para demitir, dispensar, reformar ou transferir servidores públicos.
Como consequência, houve uma onda de cassações de mandatos de opositores, de demissão de servidores militares e civis e numerosas prisões. Nos primeiros 90 dias, milhares de pessoas foram presas, ocorreram as primeiras torturas e assassinatos. Até junho, tinham sido cassados os direitos políticos de 441 pessoas, entre elas os dos ex-presidentes Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, e João Goulart, de seis governadores, 55 congressistas, diplomatas, militares, sindicalistas e intelectuais. Além disso, 2.985 funcionários públicos civis e 2.757 militares foram demitidos ou forçados à aposentadoria nos dois primeiros meses. Também foi elaborada uma lista de cinco mil “inimigos” do regime. A ditadura começou implacável.