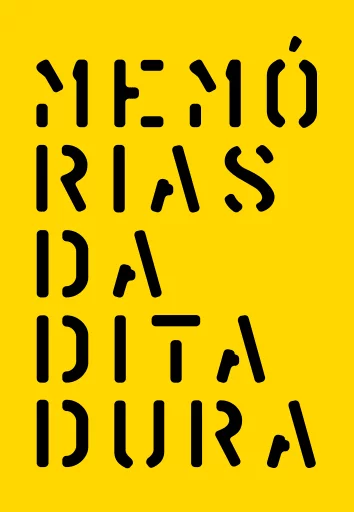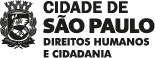Artes Plásticas sob o contexto autoritário e de vigilância
A ditadura militar no Brasil, como em outros regimes na América Latina, mostrou-se rígida, com repressão e violência. O AI-5, em 1968, endureceu a censura e suspendeu direitos fundamentais. Embora as artes plásticas não estivessem sob o mesmo jugo da censura prévia regulamentada para teatro e cinema, elas seguiam a mesma lógica no contexto de repressão autoritária. A esfera da cultura era vista com suspeição, e a vigilância era constante, não apenas por militares, mas também por apoiadores, membros dos aparelhos de controle e delatores.
Havia a crença, por parte dos militares e de seus apoiadores, de que a arte deveria permanecer distante das influências políticas. Artistas plásticos frequentemente foram vistos como subversivos ou associados às ideologias de esquerda, à crítica social e à contestação da moral e dos “bons costumes”. Já as críticas ao regime eram vistas como ameaças à segurança nacional.
A produção brasileira de artes plásticas nesse período passou a expressar o inconformismo com o autoritarismo e com as transformações artísticas globais da época. Os anos 1950 e o início da década seguinte foram marcados pela relação com o desenvolvimento nacional, exemplificado pelo concretismo e pela construção de Brasília. Após 1964, passou a vigorar o clamor por rupturas, de ordem estética e política, por meio da crítica ao regime político e aos padrões estabelecidos na arte, propondo novas linguagens e relações entre artista, obra e público.
A crítica política ganhava força, associada às vanguardas artísticas internacionais, como o pop, o happening, a videoarte, o minimalismo e o conceitualismo. Além disso, alguns eventos e movimentos foram marcantes nesse período para indicar os novos rumos da arte no Brasil, como o “Opinião 65” (MAM-RJ/1965), a “Nova Figuração”, que representava a realidade de forma mais direta e crítica, a “Nova Objetividade Brasileira” (MAM-RJ/1967), que reuniu diferentes vertentes da arte experimental, e “Do Corpo à Terra” (Parque Municipal de BH/1970), que colaborou para consolidar a perspectiva de tirar a arte dos museus e galerias e levá-la para o espaço público. A Bienal de São Paulo, criada em 1951 e considerada um palco importante para a arte, durante a ditadura militar também se tornou um espaço de tensão e contestação, como ocorreu na “Bienal do Boicote” (1969).
Nesse cenário brasileiro e latino-americano, marcado por regimes autoritários, as artes plásticas revelaram comprometimento político-social e também experimentação artística. Artistas plásticos da época passaram a circular por diferentes espaços, muitas vezes migrando para fora do circuito tradicional de galerias e museus. Além disso, buscaram criticar e protestar contra o autoritarismo, frequentemente de forma metafórica, utilizando vídeos, performances, instalações e, ainda, espaços como ruas e parques, suportes como cédulas de dinheiro, objetos cotidianos e os seus próprios corpos. Artistas como Hélio Oiticica, Lygia Clark, Antonio Dias, Carlos Vergara, Ivan Serpa, Rubens Gerchman, Lygia Pape, Nelson Leirner, Anna Maria Maiolino, Antonio Manuel, Artur Barrio e Cildo Meireles são considerados nomes importantes da arte no período.Assim sendo, as artes visuais foram atravessadas por mecanismos de censura e repressão, mas também por uma intensa capacidade criativa, que soube converter as dificuldades, as restrições e a violência em combustível para transgredir, denunciar e resistir.