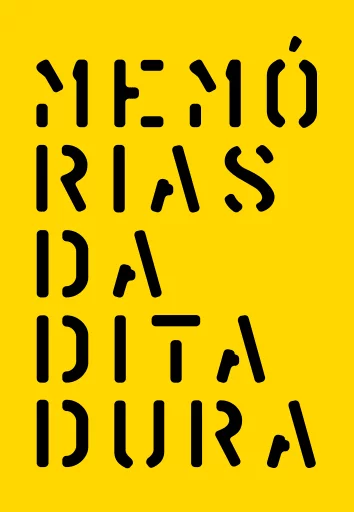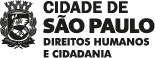Os intensos movimentos revoltosos da década de 1920, que contaram com amplo envolvimento militar, serviram de sustentação política para o Golpe de 1930, que impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e levou Getúlio Vargas ao poder. Embora comumente referenciado como “Revolução de 1930”, o historiador Edgar De Decca alerta para o caráter simbólico dessa nomenclatura, que buscava legitimar um novo grupo no poder, ocultando a violência do processo, a exclusão social e a centralização. Tratou-se de um golpe conduzido por elites políticas e militares, sem a participação efetiva e organizada das massas urbanas ou do operariado. O movimento não provocou transformações estruturais nas esferas política, econômica e social, e inaugurou um ciclo de concentração do poder Executivo — traço característico de regimes autoritários.
A partir do Levante Comunista de 1935, foi se consolidando no Brasil a retórica anticomunista. Vargas, utilizando como pretexto um falso plano de tomada do poder — o Plano Cohen —, decretou estado de guerra e fechou o Congresso Nacional. Sob a alegação da preservação da ordem, promoveu uma forte onda de repressão política, que culminou com o autogolpe de 1937, estabelecendo a ditadura do Estado Novo. O regime ditatorial resultou na extinção dos partidos políticos, instituiu a censura à imprensa e perseguiu sistematicamente seus opositores, consolidando uma das fases mais autoritárias da história republicana brasileira.