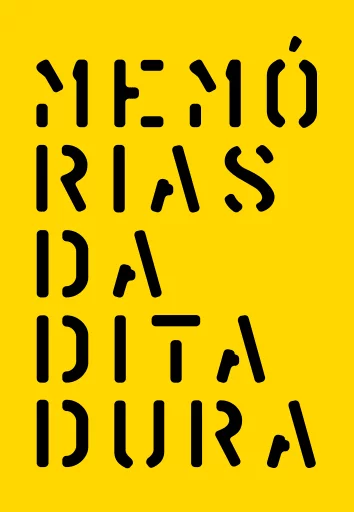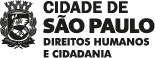O período conhecido como “milagre econômico” correspondeu ao período de maior crescimento econômico da ditadura brasileira. No governo de Emílio Garrastazu Médici (1968–1973), o crescimento médio do PIB brasileiro foi de 11,3% a.a. (ARAUJO; MATTOS); já o crescimento anual médio do setor industrial foi ainda maior e atingiu 12,7%. O contexto internacional foi muito importante para esses resultados, pois a aceleração daquele momento na economia mundial gerou demanda para os produtos exportados e possibilitou um maior acesso a divisas estrangeiras e ao crédito internacional.
Já do ponto de vista interno, diversas medidas foram responsáveis pelo “milagre brasileiro”. José Pedro Macarini denominou a estratégia econômica do período como “modelo agrícola-exportador”, perspectiva que ambicionava estimular a produtividade na agricultura e na indústria exportadora por meio de isenções fiscais, políticas de acesso a crédito e investimentos em infraestrutura. Vale observar que o “modelo agrícola-exportador” demandava vultosos investimentos para gerar as elevadas taxas de crescimento almejadas pelo governo Médici. Esses investimentos foram viabilizados pelas políticas de expansionismo monetário e de manutenção do arrocho salarial (garantido pela repressão aos sindicatos – afinal, esses eram também os “anos de chumbo”), que abriam margem para a elevação dos investimentos.
Além disso, a presença do Estado brasileiro se fazia sentir também na atuação direta e indireta na economia. O peso estatal na produção direta de insumos (energia ou minerais, por exemplo) e das redes de infraestrutura tornava o governo de Médici uma peça incontornável no cenário econômico brasileiro. Segundo Klein e Luna, o gigantismo estatal na economia brasileira era tão grande que “poucos projetos privados se iniciavam sem anuência de alguma instituição governamental para obter crédito, licença de importação ou subsídios fiscais”.
A consequência mais importante do intenso crescimento econômico desse período foi a ampliação das desigualdades sociais. Nas grandes cidades que receberam os imigrantes, o crescimento urbano sem planejamento provocou problemas de diversas ordens, especialmente quando se fala da mobilidade urbana e do saneamento básico. Por exemplo, ainda em fins dos anos 1980, 80% dos domicílios da periferia da cidade de São Paulo não faziam parte da rede de esgotos, e 54% sequer possuíam acesso à água (PAULINO). Do ponto de vista da renda, o problema é análogo, pois o modelo agrícola-exportador garantiu uma participação maior dos mais ricos na renda nacional. Lago assinalou que a participação dos 5% mais ricos na renda nacional saltou de 28,3% em 1960 para 39,8% em 1972; já a participação do 1% mais rico saltou de 11,9% em 1960 para 19,1% em 1972.
Nos termos da famosa frase associada a Antonio Delfim Netto, ministro da Fazenda no governo Médici, em 1973 o bolo parou de crescer antes de ser dividido, pois a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fez valer seu poder de monopólio e o preço do barril de petróleo quadruplicou em alguns meses. Esse episódio ficou conhecido como primeiro choque do petróleo e trouxe dificuldades para a economia brasileira que, naquele ano, importava 81% de seu consumo (HERMANN).