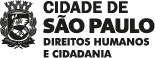Aos poucos, as pequenas ações e os grupos organizados começaram a se tornar mais visíveis. A partir de 1974, aproveitando-se do clima de discussão política que voltava a tomar conta do Brasil no contexto da “abertura”, os movimentos sociais começaram a construir uma pauta de reivindicações próprias para lutar pela redemocratização do país. O contexto econômico também era difícil, pois o aumento sensível da inflação voltava a pressionar os já baixos salários dos trabalhadores.
Muitas cidades do Brasil passaram a ter movimentos sociais fortemente baseados nos bairros, a partir da experiência cotidiana da pobreza. As Comunidades Eclesiais de Base (CEB) se espalharam por várias cidades, embora fossem mais fortes nas capitais e grandes cidades. Na Guanabara (antigo Distrito Federal, depois incorporado ao Estado do Rio de Janeiro), destacava-se a Federação das Associações de Favelas do Estado da Guanabara (Fafeg), que lutava contra as remoções forçadas das favelas, e foi duramente reprimida a partir de 1969.
Mas foi na cidade de São Paulo que esses movimentos ganharam maior força e visibilidade, dada a dimensão das periferias da capital paulista e seu crescimento nos anos 1960 e 1970.
Entre esses movimentos, destaca-se o Movimento do Custo de Vida (MCV). Antes mesmo do movimento sindical, foi a associação popular nascida da participação nos bairros que conseguiu maior visibilidade durante o regime militar, transformando-se numa espécie de central dos movimentos populares. O MCV fez com que os problemas do bairro e do cotidiano fossem a motivação inicial para discutir a política econômica do regime militar e a necessidade de luta pela ampliação dos direitos.
Foram organizadas assembleias massivas para apresentar petições contra o aumento do custo de vida, direcionadas ao governo federal. Em 1976, a primeira assembleia do Movimento contou com 4 mil pessoas, ocasião em que foi lançada a petição com mais de 18 mil assinaturas. Dois anos depois, ganhou uma grande visibilidade, com o lançamento de um manifesto exigindo congelamento de preços dos itens básicos de subsistência e aumento de salários. O Movimento se propunha a coletar mais de 1 milhão de assinaturas e entregar o documento ao Palácio do Planalto.
Em agosto de 1978, um ato público na Praça da Sé anunciou que a meta tinha sido atingida: 1,24 milhão de assinaturas. O MCV convidou o próprio presidente da República e outras autoridades para, solenemente, entregar a petição e o abaixo-assinado. Mas, em seu lugar, veio a tropa de choque da polícia militar. Mesmo se mantendo nos limites da Catedral da Sé, os manifestantes foram dispersados à força quando tentavam se aglomerar na praça em frente.
Como as passeatas estudantis tinham voltado com força no ano anterior, e ainda produziam ecos pelas cidades brasileiras, o regime tomava suas precauções para impedir que estudantes e trabalhadores das periferias voltassem a ocupar as ruas fazendo protestos pela democracia, que ao final, era a principal reivindicação..
O Movimento seguiu sua trajetória de politização crescente, embora nunca tenha tido um momento de tanta visibilidade como naquele ano de 1978 e, no ano seguinte, foi rebatizado de Movimento de Luta contra a Carestia, já sob a liderança do Partido Comunista do Brasil (PCdoB).
Os movimentos sociais de bairro e o movimento sindical-operário tinham muito em comum. Os militantes sindicais que fomentavam as greves metalúrgicas do ABC Paulista e a Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo (OSM) tinham conexões com líderes comunitários, clericais e militantes dos movimentos de bairro.
A OSM queria conquistar o sindicato dos metalúrgicos da cidade de São Paulo, dominado havia anos por Joaquim dos Santos Andrade, o Joaquinzão, considerado “pelego” (aliado dos patrões e do governo). Em 1979, numa das greves metalúrgicas organizadas pela OSM, Santo Dias da Silva foi morto pela polícia , líder muito popular também nos bairros da Zona Sul. Cerca de 20 mil pessoas participaram de seu cortejo fúnebre, pelo centro de São Paulo.
Os chamados “novos” movimentos sociais e movimentos sindicais surgidos nos anos 1970 enfatizavam a necessidade de auto-organização dos trabalhadores, nas fábricas e nos locais de moradia. Em sua ótica, o partido e o sindicato, espaços tradicionalmente privilegiados pelas organizações políticas da esquerda marxista, deveriam ser a continuidade da luta cotidiana. As lideranças, por sua vez, deveriam ser a continuidade natural e orgânica das lutas e consciências individuais dos trabalhadores que compunham a base dos movimentos.
Uma nova esquerda parecia surgir, a partir da experiência traumática das derrotas de 1964 e 1968. A nova revolução nasceria do bairro, do cotidiano, das pequenas práticas e lutas por coisas aparentemente simples, como asfalto, saúde, creches, escolas.
As periferias das grandes cidades brasileiras passaram a viver um ativismo calcado na sociedade civil, isto é, elas não estavam voltadas para a conquista rápida do Estado para impor reformas pelo alto, ainda que fossem reformas socializantes e democráticas. Vistos por muitos como lugares feios, carentes e violentos, os bairros populares das periferias abrigaram uma fugaz utopia democrática. Apesar de idealizada por muitos militantes e intelectuais à época, deixaram um recado inquestionável que até hoje clama para ser ouvido pelo sistema político e pelas elites brasileiras: sem participação popular livre e efetiva, não há democracia possível.