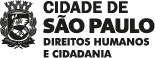“Qualquer solto som pode dar tudo errado”, alertou o letrista Paulo César Pinheiro no poema “Cautela”. “É um tempo de guerra, é um tempo sem sol”, cantava Maria Bethânia na canção de Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri. Nos rebeldes anos 1960 e 1970, cantar virou atividade de risco e compor, mais ainda. A censura baixava seu carimbo sobre aqueles que se amotinaram contra o regime e a saída encontrada pelos artistas era elaborar metáforas para expressar suas opiniões e continuar a agir de maneira engajada politicamente.
O protesto — palavra ampla, geral e irrestrita — trocava de categoria à medida que as causas mudavam. Protestava-se contra a repressão e contra a censura. Contra a guitarra elétrica — para alguns, um símbolo da traição do nacionalismo musical — ou a favor dela. Por Deus, com Deus ou contra Deus. Protestava-se também pelo direito a tomar uma coca-cola e pensar em casamento, saber da piscina e da margarina.

Tempos de Chico Buarque e Odair José. Os Mutantes e Os Incríveis. Dom & Ravel e Simonal. Roberto, e Elis, e Caetano, e Bethânia, e Taiguara, e Nara e Raul. Entre 1º de abril de 1964 e 15 de março de 1985, quando o primeiro presidente civil tomou posse, após 21 anos de governo fardado, vimos minguar o amor, sumir o sorriso e murchar a flor cultivada com bossa nova e sua crença na modernidade e na leveza de espírito. Envelhecemos com a jovem guarda. Devoramos a geleia geral da Tropicália e flertamos com a psicodelia lisérgica de um rock mutante, enquanto víamos assentar a sombra sonora de um disco voador. Barato total. Ai que vida boa, olerê.
Desse caldeirão sonoro, brotou a MPB, sigla que se traduz em uma música popular fundamentalmente eclética e socialmente reconhecida como “de qualidade”. Nunca se aplaudiu um artista como naquela época; mas também nunca se vaiou um artista como naquela época. Entre violões quebrados e esperanças equilibristas, recuperamos a voz e a liberdade. Ficaram as grandes canções para serem ouvidas, apreciadas e compreendidas.