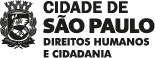Maria Cristina: “Estou aprendendo a lutar da pior forma que existe”
Mãe de Denys Henrique Quirino, morto no Massacre de Paraisópolis, em 2019, conta como se deparou com a realidade da violência policial no Brasil
Por Semayat Oliveira
Do Nós, mulheres da periferia para o portal Memórias da Ditadura
Funk: um gênero musical dos anos 60, nascido nas comunidades negras norte-americanas e representado pela mistura do soul, jazz e rhythm and blues de James Brown. Na mesma década, a luta por igualdade racial e direitos civis explodiu nos Estados Unidos. Como ondas sonoras, as batidas e reivindicações cruzaram mares e alcançaram o lado sul da América.
Em plena ditadura militar no Brasil, entre 1970 e 1980, a repressão policial em bairros empobrecidos, e habitados majoritariamente por pessoas negras, ganhou proporções estarrecedoras. Ainda assim, os chamados Bailes Blacks transbordaram das periferias de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Contemporâneamente, surgiu o Movimento Negro Unificado, estabelecendo articulações nacionais sobre a condição da população negra.
Dom Filó, um dos grandes produtores musicais cariocas da época, além de ativista pela igualdade racial, viu e sentiu na pele a violência, chegando a vivenciar um episódio de prisão. Sua existência ameaçava o regime ditatorial, já que a promoção de bailes com um reunião massiva de jovens negros indicava, também, um fortalecimento político.
De lá pra cá, o funk desenvolveu características profundamente brasileiras e se estabeleceu como uma cultura nacional. Desde as casas noturnas até às festas de família, o ritmo é um dos mais ouvidos no país. No entanto, os tradicionais bailes funk, originalmente realizados em territórios periféricos, ainda sofrem com a criminalização e perseguição do estado. O dia primeiro de dezembro de 2019 traz a marca sangrenta desta realidade.
Em 31 de novembro, uma noite de sábado, cerca de 5 mil pessoas saíram de suas casas para o famoso Baile da DZ7, em Paraisópolis, favela localizada na zona sul da capital paulista. Durante a madrugada do dia seguinte, com um público massivo ocupando as ruas, uma ação truculenta da polícia militar impôs um trágico fim ao evento.
Agentes do 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano invadiram o baile para uma ação de dispersão conhecida como ‘Operação Pancadão’. Entretanto, os jovens acabaram encurralados e agredidos em becos e vielas. Quem presenciou aquele início de domingo voltou para casa com a lembrança de uma noite violenta. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, uma delas teve uma bala de borracha alojada na perna e nove jovens nunca mais retornaram para suas famílias.
Conhecido como Massacre de Paraisópolis, o que ainda se ouve sobre o caso sai da voz de mulheres como Maria Cristina Quirino, uma das mães que recebeu uma ligação surpresa do Hospital Campo Limpo. “Me ligaram e pediram para algum familiar do Denys Henrique Quirino da Silva comparecer lá”, relata. Brava com o filho por ter saído sem voltar, suas irmãs quase a impediram de ir. “Mas fui sim, sou a mãe dele. Minha intenção era chegar lá e trazer ele pelo pescoço”.
Qualquer possibilidade de morte ficou longe do seu pensamento, assim como não sabia da ida do filho à Paraisópolis. Sua preocupação e aborrecimento naquele momento era a convivência com o ímpeto adolescente comum na idade dele. Semanas antes, Cris, como costuma ser chamada, tinha conversado com ele e pedido para evitar aglomerações. Ao mesmo tempo, ela sabia que seu menino estava apenas começando a descobrir o mundo.

“Ele queria sair, conhecer lugares e viver as mesmas aventuras que eu vivi nessa idade”, reconhece. E Denys não era o único. Matheus dos Santos Costa, o mais velho entre as vítimas, tinha apenas 23 anos. Os outros jovens envolvidos no massacre foram Marcos Paulo de Oliveira Santos (16), Dennys Guilherme dos Santos Franco (16), Gustavo Cruz Xavier (14), Gabriel Rogério de Moraes ( 20 ), Bruno Gabriel dos Santos, (22), Eduardo da Silva (21) e Luara Victoria de Oliveira (18).
Questionada por repórteres no dia do acontecimento, Cristina chegou a criticar o fato do filho estar em um baile funk. Horas depois, começou a ouvir argumentações sobre a culpa das mortes terem sido dos próprios jovens por estarem naquele espaço e dos pais, por terem permitido. Sua vida levou um solavanco. Ela entrou em choque. Por alguns dias, tudo o que ficou foi uma névoa intensa e a dor de uma mulher que nunca mais foi a mesma.
“Eu corria pra ver a polícia passar”
Embora seja natural de São Paulo, uma das tristezas de Cristina foi não ter nascido no Ceará: “meu pai, minha mãe e meus dois irmãos são cearenses e vieram pra cá em 1979, mesmo ano em que nasci”. A nova etapa da história de sua família começou em Heliópolis, a maior favela do estado de São Paulo.
Não demorou muito e seu pai conseguiu um emprego na prefeitura de São Paulo, ela e os irmãos iam à escola e passavam a maior parte do tempo ao lado da mãe. Na infância, admirava o trabalho dos agentes de segurança pública. A menina sonhava em usar a farda e gostava da forma como atuavam. “Na época, a polícia era muito bem vista pela sociedade, como segurança”, reforça.
Sua perspectiva de criança não a permitia enxergar os profissionais de forma diferente. Todos os dias, ao voltar do prezinho, ia para casa, deixava a mochila, se trocava e voltava para a esquina da sua rua. “Naquele mesmo horário, passava um camburão da ROTA”, resgata na memória. [Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, conhecida como tropa de elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo e também a mais letal].
“Eu sentava na esquina junto com outras crianças. Eles passavam e davam uma fruta, um pão com presunto. Para nós, que éramos pobres, isso já era demais”, lembra. O sonho de se tornar policial, porém, não se realizou. Após a separação dos pais, sua mãe acabou se mudando para a Brasilândia, na zona norte, e seu pai para o Carrão, na zona leste. No meio desse contexto, as condições financeiras pioraram e, aos 12 anos, decidiu parar de estudar e procurar um emprego.
“Precisava me sustentar e dar suporte para minha mãe. Então, deixei de lado meu sonho”, explica. Um dos episódios definitivos para sua saída da escola na 6ª série aconteceu após a sua primeira menstruação. “Fiquei mocinha e minha tia me ensinou a usar um absorvente. Mas, no mês seguinte, minha mãe já não tinha condições de comprar. Tive que me virar com pano”. Neste dia, trabalhar se tornou uma prioridade.
Anos mais tarde, a não realização do sonho ganhou outro sentido e o respeito à farda deu espaço para outro sentimento: a indignação. “De repente, tudo o que eu acreditava mudou. Eu achava que eles eram a segurança da minha família, mas percebi que nada era como imaginei ser”, lamenta.
“Tentei fazer tudo diferente”
Curiosidade. Essa palavra define a juventude de Cristina. “Com 13 pra 14 anos minha cabeça já estava a milhão”, fala, mantendo as mãos em movimento para demonstrar a velocidade da sua vida no período. Em busca da sua independência, teve diferentes experiências profissionais: telefonista, empregada doméstica, assistência técnica. “Trabalhei de tudo”, resume.
Sorrindo, se recorda de andar pela cidade fascinada.. Chegava a pegar o metrô e viajar de um extremo ao extremo, só pra ter o prazer de ver lugares diferentes. “Aproveitei bastante a minha juventude. Aquela Cristina não tinha medo de nada, era uma jovem aventureira que acreditava em sonhos, na sorte e na possibilidade de encontrar um bom trabalho”.
Com 17 anos, vivenciou seu primeiro casamento. O primeiro filho, Daniel, chegaria aos 18. Embora acreditasse em uma relação duradoura, a união se manteve por um curto período. Após um ano e meio, veio a separação. A partir deste momento, a jovem Cris enfrentou uma sequência de relacionamentos seguidos de desamores, “Enfim, aos 22, eu tinha passado por três relações, era mãe de três filhos e estava sozinha”.
Daniel, Danilo e Denys enfrentaram altos e baixos ao lado da mãe. Mais tarde, nasceu a única menina: Sabrina. Sempre com a avó, tias e pessoas com quem Cristina desenvolveu laços de afeto por perto, a sobrevivência da sua família foi um processo coletivo e baseado na ajuda mútua. “Passei anos da minha vida dedicada à minha família, sendo aquela pessoa que luta pela união familiar”.
Poucos dias antes de Denys ser assassinado, ela tinha se mudado para Pirituba, bairro da zona norte de São Paulo. Os dois mais velhos já não estavam com ela, Daniel morava sozinho e Danilo, agora universitário, passava os dias no alojamento destinado aos estudantes da USP (Universidade de São Paulo). Mas a mãe escolheu uma casa espaçosa, com quintal e garagem, pensando em acolher a família inteira. “Era uma casinha velha, mas do jeito que eles queriam”.
Essa foi sua alternativa para possibilitar que os mais novos tivessem acesso a escolas melhores e evitar que enfrentassem dificuldades semelhantes às dela. “Conseguir um emprego é difícil para qualquer pessoa de comunidade, principalmente o primeiro”, fala, com os olhos enchendo d’água. “Para aumentar a chance deles, levei para estudarem em um lugar melhor. Dentro do possível, tentei fazer tudo diferente”, terminou, com o rosto escorrendo em lágrimas.
Sem venda nos olhos

“Esta na sua frente não é a mesma que lutava por tudo e por todos. Hoje eu luto, mas com visões diferentes”. Com um olhar endurecido, doído, a Cristina do agora diz sentir como se tivesse vivido 40 anos da sua vida com os olhos vendados. “De repente, você tira uma máscara e se vê em uma realidade que você nunca imaginou estar”.
Mesmo conhecendo episódios como os Crimes de Maio de 2006, avalia ter observado casos de violência policial por uma perspectiva diferente da atual. “Eu pensava que a pessoa estava fazendo algo errado e, com isso, precisava pagar pelo erro”, reflete. De forma cruel, a mudança de opinião se impôs com a morte de uma das pessoas que mais amava.
Para ela, a “ficha caiu” quando assistiu aos vídeos da noite do massacre. Cada registro escancara diferentes situações de violência: pessoas encurraladas em vielas, uso de bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta e cenas de agressão. “Soube ali que meu filho tinha sido assassinado e determinei que isso não ficaria assim. Eu não poderia me conformar com a ideia da polícia ter matado meu filho e ficar quieta. Não, eles estão fora da lei!”.
Pouco tempo após o episódio, a Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, responsável por investigar a conduta dos 31 policiais militares envolvidos, pediu o arquivamento do caso alegando legítima defesa, pois os PMs teriam sido atacados pelo público do baile com paus, pedras e garrafas.
A Polícia Civil indicou que os agentes agiram mesmo sendo previsível a ocorrência de resultado letal e contrariou a justificativa dos policiais militares sobre um suposto pisoteamento. Os laudos necroscópicos indicaram que 8 das vítimas morreram por sufocação indireta, ou seja, impossibilidade de respirar, e uma delas em decorrência de traumatismo raquimedular, associado à compressão ou uma pancada. Em novembro de 2021, o Centro de Arqueologia Forense da Unifesp (CAAF/Unifep), a pedido da Defensoria Pública, investigou e concluiu, entre outros pontos, que os jovens já chegaram mortos ao hospital, esperaram pelo menos 34 minutos até serem resgatados e que a corporação liberou apenas uma ambulância para atendimento no local.
Em julho do mesmo ano, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e 13 policiais militares se tornaram réus: 1 foi acusado pela explosão de um artefato e 12 por homicídio qualificado, por terem assumido o risco de praticar mortes, com agravantes de motivo fútil, dificultando a defesa das vítimas, com emprego de meio cruel e concurso de agentes (quando mais de uma pessoa participou do crime).
Meses mais tarde, em novembro de 2021, mais uma análise foi divulgada. Desta vez, feita pelo Centro de Arqueologia Forense da Unifesp (CAAF/Unifep), a pedido da Defensoria Pública. A investigação concluiu, entre outros pontos, que os jovens já chegaram mortos ao hospital, esperaram pelo menos 34 minutos até serem resgatados e que a corporação liberou apenas uma ambulância para atendimento no local. Também apontaram como inverdade a versão da polícia sobre terem sido cercados, causando o impedindo dos primeiros socorros.
“A investigação do CAAF tem me ajudado e me mostrado coisas difíceis de assimilar. Por exemplo, a relação do funk com o acontecido, as questões políticas, essas coisas…”, conta Cristina. Logo nas primeiras manifestações públicas para denunciar e repudiar o Massacre de Paraisópolis, a mãe ouviu alguém dizer que a morte do seu filho era uma questão política.
“Essa frase mexeu muito comigo, com meu psicológico, mas eu não tinha o entendimento. Hoje sei que essa questão é a política de morte. E quando falamos sobre isso, envolve todo o contexto: a periferia, a cor da pele, a discriminação, o descaso do Estado”, explica, enfatizando lutar contra tudo isso. “O estado mata os nossos filhos. Não perguntam se tem mãe, se tem pai, eles saem matando os filhos da gente”.
“Estou aprendendo a lutar da pior forma que existe”

Durante toda a entrevista Cris alternou entre o choro longo e os risos breves. Mostrou fotos do filho, fumou alguns cigarros, tomou café. Na hora de tirar fotos, não quis sorrir e disse à Jessy, a fotógrafa, que preferia permanecer séria. Logo no começo da conversa, expliquei que a intenção era ouvir, também, sobre sua própria vida. Então, ela respondeu:
“Hoje em dia nem consigo falar de mim. Todos os dias penso nisso. Como eu queria ser aquela de antes: a mãe, a filha, a irmã. É muito difícil. Falar de mim é o mais difícil de tudo hoje, é como se eu não existisse. É como se aquela Cristina não existisse mais”.
A solidão da sua fala tem rondado, também, seus caminhos. Sente falta de pessoas que ama e costumavam, antes, estar mais perto. Sem entender o motivo do afastamento de alguns, tem seguido seus dias mais só do que gostaria.
Em busca de compartilhar suas dores com quem possa compreendê-la, se conectar com outras mães ligadas à luta contra a violência de estado foi um passo importante, mas complexo e doloroso. “No começo, eu não conseguia ouvir a história delas. Cada nova mãe que eu escuto é como se eu sofresse um novo golpe”. Além disso, o medo de retaliações também foi um impeditivo. “Tive que me bloquear para entender o que estava acontecendo, depois fui assimilando e começando a me encontrar, mas é um processo”.
Manter-se em movimento é o jeito que encontrou para acolher a si e suas dores. Neste caminho, encontrou parceiras e parceiros na Rede Emancipa, um Movimento Social de Educação Popular que luta pela democratização do acesso à Universidade e por uma educação de qualidade, localizado no Grajaú, zona sul de São Paulo. Na luta por justiça, o espaço tem oferecido solidariedade e a oportunidade de compartilhar sua história com outras pessoas. O presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo, Dimitri Sales, também foi e tem sido um parceiro nesta jornada.
Além disso, Cris tem criado um laço de afeto com Adriana Regina dos Santos, mãe de outra vítima do massacre que leva o mesmo nome do seu filho, Dennys Guilherme dos Santos Franca. E mesmo diante dos riscos, se calar não está nos seus planos: “sempre corri pelo certo e pelo certo vou seguir”, afirma.

Na bolsa, ela carrega a faixa com o rosto das vítimas assassinadas durante o Baile da DZ7 e cartazes que distribui pelas ruas, na tentativa de evitar o esquecimento das vidas que a cidade de São Paulo e o Brasil perderam no dia 1 de dezembro de 2019, em Paraisópolis. Sobre ser ativista, diz ainda não se identificar com o termo. “Não sei se algum dia alcançarei este patamar, tem que ter muito peito”. Mas a tem certeza de fazer parte de uma história nacional que tem, ativamente, exigido o fim da violência de estado no Brasil.“Sou a mãe do Denys e estou militando por uma causa e aprendendo muito com isso. Estou aprendendo a lutar, essa é a real, aprendendo da pior forma que existe”.