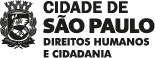A resistência à ditadura militar contou com a participação ativa e protagonista de muitas mulheres, de diferentes formas. Estavam presentes no movimento estudantil, de partidos, sindicatos e organizações clandestinas, desafiando o papel de passividade e domesticidade que a sociedade da época lhes atribuía e enfrentando o machismo latente em toda sociedade.
Pelo menos uma centena de mulheres, na maioria jovens de menos de 30 anos e estudantes universitárias, tomaram parte diretamente na luta armada. Muitas delas foram presas e outras tantas assassinadas. Elas ficaram conhecidas pela coragem e por participações arrojadas nas ações armadas. Não foi a quantidade de mulheres participando dessas organizações que rompeu com os papéis tradicionais, mas a qualidade dessa atuação.

Mesmo atuantes, as mulheres enfrentavam barreiras dentro das organizações em que participavam, que em geral não absorviam sua participação completamente. Seja porque o questionamento a valores e comportamentos machistas era tratado como um tema menor frente às grandes questões da revolução; seja porque consideravam a gravidez e a maternidade como incompatíveis com a militância, e mesmo por uma certa “divisão sexual” das tarefas revolucionárias. Era raro que chegassem a ser dirigentes dessas organizações, mas algumas vezes elas se encarregaram das ações mais perigosas, justamente por serem menosprezadas pelas forças repressoras. Muitas tiveram papel de destaque em combates armados contra as forças de segurança do regime. Das mulheres que participaram da guerrilha urbana, cerca de 45 foram mortas ou estão desaparecidas até os dias atuais. Quando não eram guerrilheiras, as mulheres atuavam como enfermeiras e professoras, como na Guerrilha do Araguaia, em que foram o primeiro elo de integração com a população camponesa local.
Essas militantes, não só na guerrilha, mas também nos partidos clandestinos, eram consideradas duplamente transgressoras. Primeiro, por desafiarem a ordem estabelecida, na tentativa de derrubar o regime militar, em segundo lugar, por contrariarem o papel de mães, esposas e donas de casa que a ditadura e a sociedade patriarcal reservavam para elas. Rompiam, assim, com estereótipos do que é ser mulher, ocupando o espaço público, a política, e até a luta armada. Por isso mesmo, quando eram capturadas pelo regime, as forças repressoras tentavam colocá-las no que consideravam ser seu “devido lugar”. Quando detidas, eram insultadas e obrigadas a ficar nuas em frente aos agentes da ditadura, sempre do sexo masculino. Passavam por sessões de tortura e eram tratadas com igual dureza das vítimas do gênero masculino, como contam os depoimentos de Criméia Alice Schimidt de Almeida ou as memórias sobre a Torre das Donzelas.

A própria tortura das mulheres era diferente daquela destinada aos homens. Para além das perversidades que eles sofriam, elas foram alvo sistemático de violência sexual. Muitas grávidas sofreram abortamentos forçados durante as sessões de tortura. Em outros casos, eram aplicados choques elétricos em seus órgãos genitais, com ameaças de que não conseguiriam mais engravidar e foram estupradas por vários agentes do estado. Nem as crianças eram poupadas do terror: algumas mulheres foram torturadas em frente a seus filhos ou foram impedidas de amamentá-los. Crianças também foram torturadas física e psicologicamente para atingir suas mães.
Não foram apenas as jovens mulheres de classe média e universitárias que se organizaram durante o regime militar. A rápida urbanização das cidades brasileiras, sobretudo da cidade de São Paulo ocupada por migrantes vindos do Nordeste, de Minas Gerais e do interior paulista, fez expandir a organização às periferias. As comunidades começaram a ver surgir lideranças femininas que percebiam as dificuldades socioeconômicas e políticas a partir das dificuldades de seu cotidiano e se reuniam nos movimentos de bairro.
Nesses encontros, elas se uniam para pressionar o poder público por melhores condições de vida, lutando por moradia, escolas, postos de saúde, transporte coletivo, creches. Eram donas de casa, trabalhadoras urbanas, faxineiras, empregadas domésticas, comerciárias. Pessoas que, pelos laços de vizinhança e solidariedade, desenvolvidos para enfrentar a dura sobrevivência, se encontravam nas paróquias, sob a proteção principalmente da igreja católica, criando, assim, uma forma de organização e participação social das mulheres, em plena ditadura militar.
Apesar de muitas vezes estarem ligadas ao catolicismo, tradicionalmente conservador em termos comportamentais e da visão do papel feminino, as mulheres das classes populares acabaram desenvolvendo uma pauta própria de reivindicações, que incluía respeito dos seus companheiros, denúncias de violências domésticas e igualdade de oportunidades.
Assim surgiram os clubes de mães, as associações de bairros, a oposição sindical, as comunidades eclesiais de base, o movimento contra o custo de vida. Em grande medida isso tudo ocorreu sob a proteção da Cúria Metropolitana de São Paulo, dirigida pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, que abriu suas paróquias para acolher essa nova organização popular no período mais violento da ditadura militar, de 1970 a 1974, durante o governo do general Médici.
Além de militantes de base e lideranças políticas das organizações de esquerda, as mulheres tinham outras facetas que se tornaram importantes na luta pela anistia e pelos direitos humanos: companheiras, mães, filhas, irmãs, organizadas nas mais diversas formas de luta, procurando por maridos, filhas e filhos, pais, irmãos, incansáveis diante dos portões dos presídios. Por exemplo, em 1968 com o aumento das manifestações e da repressão contra a juventude surge um movimento de mães em defesa de seus filhos no Rio de Janeiro, que ficou conhecido como União Brasileira de Mães. Essas mulheres se conheceram, uniram-se e formaram comissões de familiares de presos e desaparecidos. Aquelas que haviam saído dos cárceres da ditadura iam se incorporando a essas comissões, levando sua experiência de luta e o testemunho de seu sofrimento. Desses grupos iria se originar o Movimento Feminino pela Anistia que, unindo mulheres e homens, se estendeu pelo país, ampliado pela formação do Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA) e seus comitês regionais espalhados por vários estados. As mulheres lideraram e formaram grande parte das lideranças na luta pela anistia, em diversas organizações.