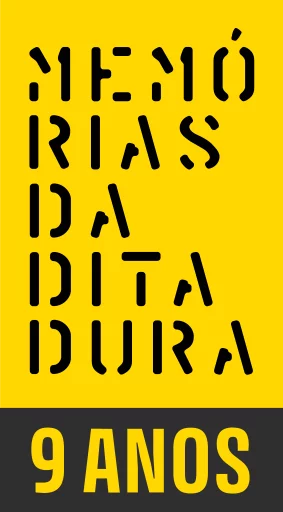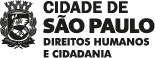Compositores como Chico Buarque, Caetano Veloso e Geraldo Vandré atacavam de maneira mais ou menos velada a tortura, o autoritarismo, a censura. No Festival de Música Popular, promovido pela TV Record, em 1967, Edu Lobo e Capinam levaram o primeiro prêmio, com “Ponteio”. A música tem batida sertaneja e alusão à violência dos militares na letra. Nas entrelinhas, eles pediam o fim da ditadura:
“Certo dia que sei / Por inteiro / Eu espero não vá demorar / Este dia estou certo que vem / digo logo o que vim / Pra buscar (…) / Vou ver o tempo mudado / E um novo lugar pra cantar”.

O pensamento marxista marcava o Cinema Novo de Nelson Pereira dos Santos, Leon Hirszman e Glauber Rocha, que não só exibiam a miséria do país, mas a colocavam no centro de sua linguagem. Era a chamada “estética da fome”. No teatro, grupos como o Oficina e o Teatro de Arena baseavam-se em peças de alto teor político e na irreverência das montagens, que desobedeciam a convenções estabelecidas e procuravam quebrar a passividade do público.
Na realidade, o movimento de conscientização política da população e da cultura havia despontado antes do golpe de 1964. O nacionalismo, a politização e o desejo de mudança, tanto na linguagem teatral quanto na sociedade brasileira, estavam entre os pilares de grupos surgidos na década de 1950, como o Teatro de Arena e o Oficina. Isso transparece em espetáculos como Eles Não Usam Black-Tie (1958), de Gianfrancesco Guarnieri, que trata de uma greve operária, colocando moradores de favelas em cena.

Essa peça, na esteira do debate sobre as reformas de base do governo João Goulart, estava ligada à atuação do Centro Popular de Cultura da UNE, o CPC. O CPC viabilizou, por exemplo, a encenação de peças de teatro junto a associações de trabalhadores, na porta de fábricas ou na zona rural. A primeira atitude do governo militar foi estancar esse processo, na tentativa de dissolver as conexões entre a cultura de esquerda e as classes populares. O CPC, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb) e o Movimento de Cultura Popular do Recife foram fechados.
Nessa primeira fase da ditadura, artistas e intelectuais de esquerda foram poupados e puderam continuar a produzir em liberdade. Com o Ato Institucional Nº 5 (AI-5), em dezembro de 1968, a repressão recrudesceu: artistas e intelectuais foram presos e precisaram deixar o país, não raro na condição de exilados.