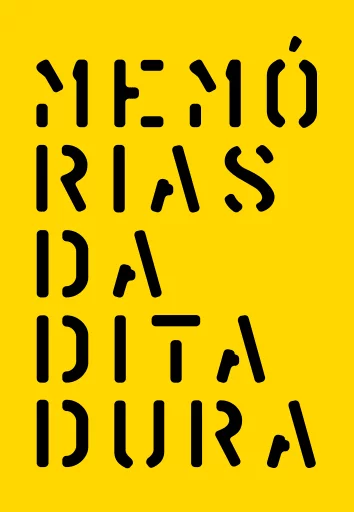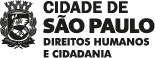Sabemos que essa memória simpática à ditadura não era exatamente uma novidade, mas era uma memória subterrânea, quase tímida. Contudo, era a primeira vez que ela se destacava tão abertamente no cenário nacional. Era uma memória provocadora, que convocava especialistas no tema a explicar o que havia acontecido. Além disso, trouxe ao vocabulário acadêmico brasileiro a palavra negacionismo — algumas vezes no singular, outras no plural — até então bastante usada para identificar simpatizantes do Terceiro Reich alemão, que negavam os números e ações do Holocausto.
Na primeira edição do dicionário da língua portuguesa escrito por Aurélio Buarque de Holanda, em 1975, portanto ainda na ditadura, a palavra “negacionismo” não constava dentre milhares de léxicos presentes em uma obra que acompanhou gerações de brasileiros. Na edição de 1986, a primeira no contexto democrático e a segunda da obra, a palavra seguia ausente. Já no Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, publicado em 2001, negacionismo aparece como substantivo masculino, de origem francesa, significando a “negação de um passado histórico incômodo ou constrangedor, ou contestação de outro tipo de ocorrências factuais por motivo de frustração, desalento, fundamentalismos etc.”
O negacionismo se expandiu e cresceu mundialmente nas últimas décadas. Seja o histórico, que nega o Holocausto e a ação das ditaduras, por exemplo, seja o científico, que convivemos muito durante a pandemia de COVID-19, quando a existência do próprio vírus ou da vacina foi contestada, e até mesmo na emergência da crise climática. Pesquisadores de todas as áreas passaram a ter seu conhecimento questionado.
Contudo, no caso da ditadura no Brasil, temos que pensar em um contexto mais amplo. O que vimos até então não são pessoas que negam a existência da ditadura ou suas ações, mas sim pessoas que valorizam e enaltecem o uso da violência. O negacionismo passava pelas Forças Armadas que, desde a própria ditadura, negavam a tortura, o desaparecimento forçado e o assassinato. Quando impossível de negar, diziam que eram ações isoladas, ocorridas no calor dos acontecimentos, mas que não constituíam uma política de Estado.
O documentário Memória Sufocada (2023), dirigido por Gabriel Di Giacomo, é uma análise crítica das disputas pela memória da ditadura militar brasileira e do negacionismo histórico que ainda permeia o debate público. O filme destaca a figura de Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-CODI de São Paulo e único militar condenado por tortura durante a ditadura. Ustra é exaltado por setores da extrema-direita, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, evidenciando o processo de construção de uma memória revisionista que minimiza os crimes cometidos pelo regime militar
Tanto a família Bolsonaro quanto simpatizantes da ditadura, no momento, não apontam ações dos governos militares na economia, por exemplo, ou na abertura das grandes obras. Nenhum dos carros-chefes da ditadura, que costumeiramente os militares valorizam, era citado. Assim como não eram enaltecidos os generais que chegaram à presidência entre 1964 e 1985. O que se observa é o enaltecimento de reconhecidos torturadores e a valorização da violência como arma política. Era, sem dúvida, uma mudança na memória da ditadura. Frases como “mataram pouco” ou “deveriam ter matado todos” passaram a ser faladas e escritas sem constrangimento algum. Da mesma forma, o Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, que acabou com direitos fundamentais dos cidadãos e abriu espaço para uma violência maior, passou a ser valorizado e até mesmo teve seu retorno desejado.
Ainda há muito a compreender sobre essas mudanças nos últimos anos no Brasil. Mas, sem dúvida, a disputa de narrativas ganhou uma dimensão ainda maior pela existência e uso de redes sociais, canais no Youtube e plataformas de streaming dedicadas a produção de vídeos e documentários sobre política e história, baseando-se e utilizando um viés de extrema-direita e conservador, com altíssimos investimentos financeiros e tecnológicos. Essas produções alcançaram as salas de aula, onde o conhecimento dos professores tem sido questionado e invalidado, tanto em suas práticas pedagógicas quanto em suas próprias concepções sobre a ciência, assim como sua liberdade de ensinar e o próprio conteúdo básico exigido pelas leis nacionais de educação.