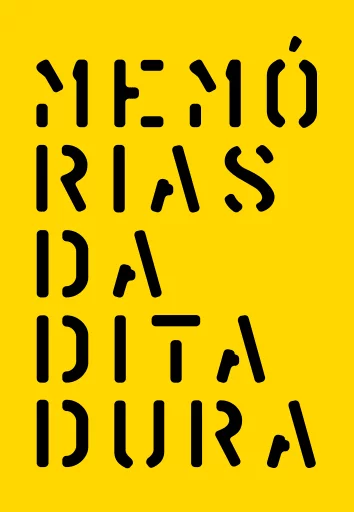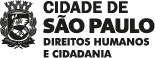A teoria e a prática da justiça de transição, quando não ignoraram, atribuíram menor atenção às violências de gênero perpetradas em contextos ditatoriais, autoritários e de conflitos armados (Almagro; Schulz, 2022; Mantilla, 2015). Em nome de uma perspectiva aparentemente neutra, a maioria das experiências de mecanismos transicionais – como comissões da verdade, tribunais e órgãos de reparação – acabou por invisibilizar a situação específica das mulheres e da população LGBT+.
No Brasil, não foi diferente. A justiça de transição brasileira inicialmente reproduziu, no âmbito nacional, os limites que constituíram o campo como um todo. Não por acaso, as três principais comissões instituídas pelo Estado e responsáveis por investigar e/ou reparar as graves violações de direitos humanos perpetradas no contexto da ditadura militar – a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (Lei nº 9.140/1995), a Comissão de Anistia (Lei nº 10.559/2001) e a Comissão Nacional da Verdade (Lei nº 12.528/2011) – tiveram mandatos jurídicos neutros, sem qualquer referência expressa a questões de gênero.
Apesar disso, os trabalhos da CNV e das comissões estaduais da verdade (como as de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina) abriram um importante espaço para que, mais de 40 anos após o golpe militar, as mulheres pudessem ser, pública e amplamente, ouvidas sobre as especificidades da violência ditatorial que recaiu sobre seus corpos e suas vidas (Teles, 2015, p. 1002).
Hoje, está oficialmente comprovado que a repressão política direcionou aos corpos femininos uma violência específica – de natureza sexual, reprodutiva, obstétrica e psicológica –, que acabou por gerar consequências e sequelas distintas entre mulheres e homens (São Paulo, Comissão Rubens Paiva, 2014). Para além de ameaças à ordem nacional e consideradas “terroristas” e “subversivas”, ao ocuparem o espaço público da política, as mulheres estavam, sobretudo, “transgredindo os papéis que tradicionalmente lhes eram designados – a saber, de dona de casa, mãe e esposa” (Rio de Janeiro, CEV-Rio, 2015, p. 140) e, por isso, sofreram consequências extremamente violentas sobre seus corpos e seus projetos de vida.
Enquanto sistema repressivo misógino, a ditadura militar comprovadamente usou o corpo, a sexualidade e a maternidade como meios de intensificar a tortura contra mulheres militantes, reforçando a discriminação e os estereótipos de gênero (Teles, 2015, p. 1001).

Também sabe-se oficialmente que a ditadura militar brasileira perseguiu e violentou a população LGBT+, com base na orientação sexual e na identidade de gênero (Brasil, CNV, vol. 2, p. 300). Alvo de discursos e práticas homofóbicas institucionalizadas pela ditadura, a homossexualidade foi, à época, associada a uma forma de degeneração e de ameaça à ordem nacional, o que legitimou sua inserção na figura mais ampla do “inimigo interno” a ser combatido. Para além de práticas violentas – como rondas policiais de “higienização”, espancamentos, extorsões, tortura e perda de cargos públicos – a ditadura buscou reforçar a estigmatização contra a população LGBT+ e lançar na invisibilidade corpos e coletivos que reivindicavam seus espaços e direitos (Quinalha, 2021).
Apesar dos recentes avanços nas pesquisas sobre tais temas e dos esforços iniciais empreendidos pela CNV, permanecem lacunas que precisam ser oficialmente investigadas e reparadas no âmbito da justiça de transição brasileira. Passados mais de 60 anos do golpe militar, ainda é necessário construir o quadro de resistências e de violências ao qual as mulheres e a população LGBT+ foram submetidas durante a ditadura, adotando-se um enfoque de gênero que atravesse os principais pilares da justiça de transição: a verdade, a memória, a justiça, a reparação e a não repetição (Stanchi; Schettini; Melo, 2024).