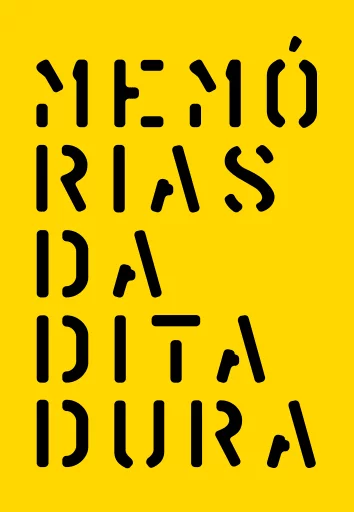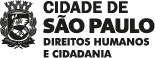Esses acontecimentos reforçam a demanda por políticas de memória a partir de ações do Estado. Como exemplos de políticas de memória, podemos citar a abertura de arquivos oficiais, a criação de comissões para investigar as ações da ditadura, a criação de memoriais e museus, o incentivo ao ensino do tema na educação básica, as ações de reparação às vítimas diretas e indiretas do Estado e a promoção do debate público. Essas ações não devem se restringir apenas ao tema da ditadura, mas devem englobar o que são conhecidos como passados sensíveis ou difíceis.
No caso brasileiro, por exemplo, a escravidão e seu impacto em nossa sociedade devem ser alvos de tais políticas, que englobam, por exemplo, o reconhecimento de áreas quilombolas no território nacional, as cotas, a investigação de empresas que se beneficiaram do uso de trabalho escravo e as leis de ensino da cultura afro-brasileira.
No caso da ditadura, algumas políticas têm sido desenvolvidas desde os anos 1990. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, foi criada a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Apesar de todos os problemas em sua origem, era a primeira vez que o Estado brasileiro reconhecia sua responsabilidade nas mortes e desaparecimentos de 434 cidadãos.
A Comissão funcionou ininterruptamente até dezembro de 2022, quando, em uma de suas ações durante a presidência, foi extinta por Jair Bolsonaro, sendo retomada em julho de 2024, após diversas ações da sociedade civil junto ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi a Comissão que forneceu, pela primeira vez, uma certidão de óbito de acordo com a lei. Mais recentemente, novas certidões estão sendo emitidas, reconhecendo a causa mortis pela violência e a responsabilidade do Estado.
À Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos somaram-se a Comissão da Anistia, criada em 2002, para o reconhecimento da perseguição política sofrida, indenizações etc., e a Comissão Nacional da Verdade, criada em 2011, com o objetivo de investigar e esclarecer as graves violações dos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1985. Todas essas ações, com cronologias diferentes, estabelecidas por três presidentes distintos, e que também foram atingidos de diferentes maneiras pela ditadura, visam à memória e à verdade. Ampliaram o perfil das vítimas, incluindo, por exemplo, indígenas, quilombolas, trabalhadores, filhos e netos de perseguidos. No entanto, ainda temos muito a avançar no que diz respeito à justiça.
No caso brasileiro, outro ponto que chama atenção é o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, publicado em 2009, em que, pela primeira vez, o direito à memória e à verdade aparece em uma de suas seções.
Todos esses documentos e seus resultados podem ser vistos como uma história oficial. Não aquela que os cursos de História ensinam e discutem como tradicional, sem questionamentos, mas oficial no sentido de que são oriundos de ações do Estado, construída a partir do diálogo com a historiografia e com a sociedade organizada, o que obviamente não a isenta de críticas.
Para todas essas ações e para combater os negacionismos, outro aspecto muito característico do caso brasileiro é o acesso aos arquivos da e sobre a ditadura. Nos anos 1980, durante o processo de transição à democracia, uma das consignas brasileiras mais pronunciadas em manifestações, eventos políticos e acadêmicos era “abram-se os arquivos”. A busca pelos documentos da repressão marcou a luta pela verdade, memória e justiça no país. Ter acesso a uma documentação sigilosa, feita para não ser lida por quem não fazia parte do quadro repressivo, era e é fundamental para comprovar as ações da ditadura, encontrar pistas sobre as mortes e desaparecimentos, estabelecer responsabilidades e romper o pacto de silêncio feito pelos envolvidos em graves violações dos direitos humanos.
Nesse sentido, desde os anos 1980, com maior ímpeto nos anos 1990, procura-se por essa documentação. A primeira a ser conhecida foi a relativa ao DOPS, a polícia política estadual extinta com a redemocratização. Já os arquivos das Forças Armadas permanecem, em grande parte, inacessíveis. Temos contato com a documentação que circulava entre os órgãos que compunham o sistema repressivo.
Com a Lei de Acesso à Informação (nº 12.527, de 18 de novembro de 2011), ampliou-se significativamente o conhecimento sobre a ação da ditadura, desde a perseguição a funcionários públicos até mesmo a remoção de indígenas de seus territórios, a atuação de empresas privadas beneficiadas pelas políticas do regime e, em alguns casos, o destino de brasileiros e brasileiras mortos pela repressão.
Nesse sentido, os arquivos são importantes não apenas para a pesquisa histórica, mas também para o esclarecimento da verdade, que movimentos negacionistas buscam desconsiderar. O acesso a esses arquivos, com fotografias, objetos privados recolhidos em ações militares ou com depoimentos dados após sessões de tortura, constitui também uma política de reparação às vítimas e seus familiares, restabelecendo a verdade sobre os testemunhos e oferecendo respostas.
Os negacionismos não são um fenômeno novo, mas têm ganhado novos contornos, em especial pela atuação de grupos politicamente engajados nas redes sociais, que são espaços públicos de ampla capacidade de difusão, mas que não possuem regulação ou legitimidade institucional. Esses fenômenos tendem aumentar em contextos de polarização política, reconfiguração social ou instabilidade institucional. Deste modo, uma das funções das políticas de memória é preservar e difundir, trazendo à sociedade evidências baseadas em métodos, análises e reconhecimento da pluralidade de ideias, garantindo dessa forma, o avanço do conhecimento e do pensamento crítico e sobretudo, da defesa da democracia.