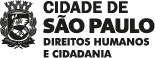O impacto da ditadura sobre os meios universitários não se restringiu à sua faceta repressiva. A chamada reforma universitária da ditadura, levada a cabo a partir de 1968, tinha entre seus principais objetivos “modernizar” o setor. Naquele contexto, modernizar significava atualizar os processos administrativos, científicos e tecnológicos, aproximando-os de padrões dos países mais avançados.
Visando melhorar o desempenho econômico do país, a “modernização” implantada pela ditadura era absolutamente autoritária, além de promover o aprofundamento de desigualdades sociais. Tratava-se de uma “modernização conservadora”.
Desde o fim dos anos 1950, lideranças acadêmicas demandavam mudanças no ensino superior, por acreditarem que havia um enorme atraso não somente em relação à Europa e EUA, mas também em comparação com outros países da América Latina. Os principais problemas apontados eram a escassez de vagas, que impedia o acesso de um maior número de jovens a esse nível de ensino, e o predomínio de um ensino de baixa qualidade.
Embora existissem universidades de excelência, elas eram pequenas ilhas em meio a um sistema considerado atrasado. Parte da pesquisa de melhor qualidade no país era realizada fora de faculdades, em centros de pesquisa isolados. Uma das poucas exceções era a Universidade de São Paulo (USP), que possuía melhores condições de pesquisa devido aos investimentos do Estado mais rico da federação.
O sistema federal, composto por 21 universidades em 1964, era menos afortunado. Nessas instituições, em geral, fazia-se pouca pesquisa, até porque a maioria dos professores ganhava mal e trabalhava em várias instituições, não havendo um sistema de dedicação integral do docente.
As faculdades eram organizadas por cátedras, comandadas por professores poderosos chamados “catedráticos” que, entre outros privilégios, tinham cargos vitalícios. Tal sistema era considerado responsável pela fraca produção de conhecimento e pela apatia dos professores situados nos níveis hierárquicos inferiores. É por isso que no início dos anos 1960 surgiu um movimento pela reforma universitária, defendendo o fim das cátedras, o aumento de salários e de verbas para pesquisa, o aumento das vagas nas graduações e criação de novos cursos de pós-graduação.
Essas demandas estavam prestes a serem implantadas pelo governo de João Goulart, quando veio o golpe. Depois de alguma hesitação, a ditadura acabou por apropriar-se de algumas medidas reformistas e adaptou-as aos objetivos do próprio regime autoritário nos acordos MEC-USAID.
Por um lado, interessava à ditadura investir mais nas universidades em benefício dos planos de crescimento econômico, que exigiam ampliação da oferta de pessoal qualificado, especialmente de engenheiros, físicos, químicos, matemáticos e economistas. De outro lado, aumentar verbas para pesquisas e salários dos docentes poderia ampliar a aceitação do regime nos meios acadêmicos, evitando que a repressão fosse a única política para as universidades. Era também uma tentativa de suavizar as relações com os intelectuais e cientistas, integrando-os à modernização autoritária. Pretendia-se, igualmente, que uma maior oferta de bolsas e de laboratórios de pesquisa afastasse a maioria dos estudantes de posicionamentos políticos radicais.
Outra estratégia que visava enfraquecer o movimento estudantil foi a criação do Projeto Rondon, cujo nome homenageava o militar e sertanista Cândido Mariano da Silva Rondon (1865-1958). Com esse Projeto especial, a ditadura pretendia canalizar a disponibilidade da juventude para a atuação política e social em atividades de cunho assistencialista. Com ele, o governo tentava aproximar os jovens dos valores defendidos pela ditadura, enviando os universitários para ações de extensão em lugares distantes dos grandes centros. Apelavam ao patriotismo com o intuito claro de enfraquecer o poder de atração das ideias de esquerda.
Algumas medidas consideradas “modernizadoras” no projeto da ditadura marcam o sistema universitário em vigor até hoje. Entre elas destacam-se a substituição do sistema de cátedras pelos “departamentos” (trocando a autoridade quase pessoal do catedrático pela especialização e relativo isolamento entre as áreas do saber). Criou-se um sistema nacional de pós-graduação, instituíram-se planos de carreiras e a universalização do regime de tempo integral para docentes das universidades públicas.
Embora algumas dessas medidas representassem demandas históricas dos movimentos universitários, não tiveram a receptividade que a ditadura esperava. Estavam perpassadas pelo autoritarismo de seus elaboradores, apesar de algumas mudanças terem sido desenhadas por docentes que trabalhavam em órgãos oficiais do Estado.
Um de seus autores, por exemplo, foi o jurista professor Luiz Antônio da Gama e Silva, que era considerado extremista até pela própria “linha dura” do exército. Apoiador entusiasmado do golpe de 1964 desde a primeira hora, Gama e Silva comandou o primeiro expurgo de professores da USP, quando era seu reitor. Como recompensa, foi nomeado ministro da Justiça, encarregado de endurecer o regime e redigir o AI-5. Gama e Silva não largou a reitoria quando se tornou ministro, acumulando os dois cargos durante três anos.