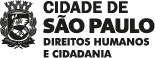Os massivos protestos estudantis, imediatamente após o golpe, foram uma constante preocupação para os militares. A radicalização da oposição ao regime no ambiente universitário foi uma das justificativas para o incremento repressivo do AI-5, editado em 13 de dezembro de 1968. A escalada autoritária dos militares aconteceu pouco depois da aprovação da reforma universitária, nos últimos dias do mês de novembro. Assim, paralelamente à expansão e à modernização das universidades, acontecia também o recrudescimento da violência contra estudantes, professores e funcionários.
Preocupados em conter o ativismo radical no ensino superior, os militares avaliaram que a truculência autorizada pelo AI-5 não bastava. Era necessário criar ações repressivas específicas, que se traduziram no Decreto nº 477, datado de fevereiro de 1969.
Embora professores e funcionários também pudessem ser punidos com base no Decreto 477, ele foi concebido especialmente para desestruturar as organizações estudantis. Suas disposições explicitaram a proibição de reuniões políticas dentro das universidades e originaram um aparato de vigilância cotidiana: estudantes e professores passaram a conviver com o medo constante de agentes infiltrados, disfarçados de “colegas”.
Mas ainda não era o bastante. Para ampliar a máquina de vigilância e repressão nas universidades, o governo militar criou, em 1969, as Assessorias de Segurança e Informação (ASI), que funcionavam no interior das instituições de ensino superior. Subordinadas teoricamente aos reitores, as ASI eram vinculadas ao Serviço Nacional de Informações (SNI).
Mais de 40 ASI universitárias foram instaladas nos anos 1970 e, juntamente com outros órgãos, selecionavam politicamente as contratações de funcionários, as concessões de bolsa e as autorizações para estágios no exterior. Além disso, no seu trabalho cotidiano de vigilância e coleta de informações, as ASI ajudaram a monitorar a vida universitária e a impedir a livre circulação de ideias.
Entre 1969 e 1977, mais de mil estudantes foram excluídos das universidades, tanto por força do Decreto 477, quanto devido a resoluções internas das reitorias e diretorias, notabilizando a presença de ativos colaboradores da ditadura nos órgãos acadêmicos. Além de desligados das faculdades, os estudantes punidos pelo Decreto 477 ficavam três anos proibidos de se matricular em outra instituição de ensino superior.
A repressão aos docentes também se acirrou no pós 68. Um novo expurgo foi realizado na esteira do AI-5, com a aposentadoria compulsória ou demissão sumária de aproximadamente 140 professores universitários. Alguns deles eram figuras muito destacadas no cenário científico e acadêmico, como Mário Schenberg, Florestan Fernandes, José Leite Lopes, Luiz Hildebrando Pereira, Maria Yedda Linhares, entre outros. O impacto dessa nova onda de expurgos foi mais forte, pois os atingidos de 1969 ocupavam posições de maior notabilidade acadêmica, gerando enorme comoção no Brasil e no exterior.
É preciso assinalar que, além do aumento da vigilância e dos diversos expurgos, o contexto aberto pelo AI-5 trouxe uma intensificação da violência física. As denúncias de tortura, assassinatos e desaparecimentos de membros da comunidade acadêmica eram quase diárias. Para os meios acadêmicos, o AI-5 foi avassalador. A violência que se abateu sobre seus membros superou em muito a de 1964 (em parte porque o alvo principal no período anterior eram trabalhadores de outros setores).
Os casos de professores detidos por mais tempo, especialmente os que sofreram tortura, em geral envolviam suspeitas de participação em grupos revolucionários clandestinos, armados ou não, ou de apoio a esses grupos.
Nesse período, ocorreram dezenas de assassinatos e desaparecimentos de docentes. Entre eles, os casos mais célebres foram de Vladimir Herzog e Ana Rosa Kucinski, ambos da USP, e de Lincoln Bicalho Roque, da UFRJ. O terror atingiu um número bem maior de estudantes, eles representam parcela considerável do total de mortos e desaparecidos pelos órgãos da ditadura.
Com a maioria dos canais de manifestação amordaçados, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) tornou-se cada vez mais crítica à ditadura. Suas reuniões anuais transformaram-se em palcos de manifestações contra o regime, em que se denunciavam firmemente as perseguições a professores, pesquisadores e estudantes, bem como a intervenção da ditadura nos sistemas educacional e científico.
Em sua 20ª Reunião, em 1968, a SBPC exigiu o fim do exílio de cientistas, argumentando que a ditadura estava prejudicando diretamente a pesquisa brasileira por sua intolerância política. A partir desse período, a entidade tornou-se um espaço fundamental de resistência dos cientistas contra a ditadura. Nos fóruns anuais, os participantes articulavam mobilizações em prol da liberdade de pensamento científico, da liberdade de expressão, pelo fim da tortura e da repressão e em defesa da anistia aos presos políticos, entre outras demandas. Por ser formada por pesquisadores renomados, a SBPC tornou-se uma pedra no sapato da ditadura, reunindo mais de 30 mil sócios.