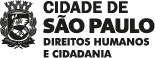É importante observar como o entrelaçamento entre controle social e repressão política se traduziu nos próprios órgãos de informação e segurança. Tal dimensão fica notória quando observamos algumas trajetórias individuais. Abordamos o caso de Riscala Corbaje, mas, assim como ele, houve muitos outros agentes formados na ação contra as “classes perigosas” que, posteriormente, foram recrutados para atuar contra a “subversão”. Em São Paulo, Sérgio Paranhos Fleury foi o nome que melhor expressou essa simbiose. Policial civil pertencente ao esquadrão da morte, Fleury – assim como Corbaje – foi chamado para atuar na repressão política em função da sua “competência” para levar adiante violações de direitos humanos. A partir de 1968, passou a integrar os quadros do Departamento Estadual de Ordem Política e Social (DEOPS) de São Paulo e foi um dos responsáveis, dentre outros crimes, pela execução de Carlos Marighella. Outro membro dos órgãos de segurança com uma trajetória parecida com a de Fleury e Corbaje, é Cláudio Guerra. Policial civil lotado no DOPS do Espírito Santo, Guerra se tornou notabilizado não só pela violência com que se voltou para eliminar os opositores do regime, mas também pela sua atuação em esquadrões da morte naquele Estado.
Se no início do regime os agentes foram recrutados por sua experiência na violência contra os moradores de favelas e periferias, a abertura “lenta, gradual e segura” deu espaço para que o caminho inverso também ocorresse. Com o fim do período, muitos agentes que acumularam uma expertise no uso da violência ilegal se voltaram para uma atuação junto a grupos de extermínio, bicheiros e milícias. Um dos mais conhecidos é o de Aílton Guimarães, conhecido como Capitão Guimarães. Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, serviu no DOI-CODI do Rio de Janeiro, sendo reconhecido por diversos ex-presos políticos como torturador. Ao longo dos anos 1980, foi se consolidando como um dos principais nomes da contravenção no Estado.
Além de agentes específicos, se produziu uma simbiose entre os órgãos que deveriam se voltar para a segurança pública e os criados para cuidar da Segurança Nacional. Chamamos a atenção para um aspecto relacionado aos DEOPS (ou DOPS, a depender do Estado). Ainda que não tenham sido os órgãos responsáveis pelo maior número de assassinatos e desaparecimentos forçados, eles costumam funcionar como metonímia da estrutura repressiva ditatorial. Por isso, é interessante observar melhor o significado da sigla: Departamento de Ordem Política e Social. Ou seja, tratava-se de uma polícia voltada para a repressão dos opositores políticos e daqueles socialmente indesejados. Já no caso do DOPS, é expressivo por reunir no próprio nome o entrelaçamento entre Segurança Nacional e a segurança pública. É necessário notar ainda como a ditadura moldou a arquitetura institucional das forças de segurança, de maneira a ampliar a militarização do cotidiano de moradores de favelas e periferias. Um trabalho que se destaca sobre essas mudanças é o da pesquisadora Maria Pia Guerra.
A subordinação da segurança pública à Doutrina de Segurança Nacional teve início com o Ato Institucional n. 2, de 1965, marco importante de centralização do poder no Governo Federal, incluindo o começo de um processo de federalização da segurança pública. Em 1967, o Decreto-lei 317/67 reorganizou as forças policiais do país. No ato normativo, o regime reforçou a subordinação das polícias militares ao Exército, estabeleceu a exclusividade da Polícia Militar para a execução do policiamento ostensivo. Determinou, ainda, que “o comando das Polícias Militares será exercido por oficial superior combatente, do serviço ativo do Exército, preferencialmente do posto de Tenente-Coronel ou Coronel, proposto ao Ministro da Guerra pelos governadores de Estado e de Territórios ou pelo prefeito do Distrito Federal”. O Decreto-lei também criou a Inspetoria Geral da Polícia Militar, órgão vinculado ao Departamento Geral de Pessoal do Exército, e que serviria para fiscalizar e normatizar as polícias militares estaduais.
Em 1970, o Decreto 66.862/70 aprovou o regulamento das polícias militares estaduais que indicava, dentre as ações de “perturbação da ordem” sobre as quais esses órgãos deveriam atuar, “atividades subversivas, agitações, tumultos, distúrbios de toda ordem, devastações, saques, assaltos, roubos, seqüestros, incêndios, depredações, destruições, sabotagem, terrorismo e ações de bandos armados nas guerrilhas rurais e urbanas”. Além disso, esse regulamento instituiu uma série de medidas que reforçaram a subordinação das polícias ao Exército.
Com a ata de reunião da chamada “comunidade de informações” do 1º Exército, revelada pela Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, é possível observar a prática do agrupamento dos atos normativos. A “comunidade de informações” era caracterizada como o conjunto de órgãos estruturados pela ditadura para levar a efeito a repressão aos opositores políticos. No entanto, um encontro de agosto de 1971, demonstra que seu escopo era mais amplo. Após informes de órgãos como o DOI-CODI e o DOPS, um representante da Polícia Militar do Estado da Guanabara afirma que: “vai intensificar as batidas nas favelas, realizando-as da ordem de 3 a 4 vezes por semana”. Ou seja, uma ação usualmente entendida como relacionada à “segurança pública”, levada a cabo pela Polícia Militar, era apresentada ao lado dos atos voltados contra a guerrilha e os opositores políticos do regime. Este excerto mostra como as ações voltadas para o controle social das “classes perigosas” ganharam status de atividades pertinentes à Segurança Nacional.
Os elementos até aqui elencados demonstram como a ditadura, por intermédio das Forças Armadas, consolidou um controle cada vez maior sobre as polícias estaduais, especialmente as militares. Este comando, no entanto, não representou um constrangimento à promoção da violência ilegal e ilegítima contra as classes populares. Na verdade, foi precisamente o contrário: se traduziu em uma contínua militarização desses órgãos, e a autorização tácita ou explícita para o uso da força de maneira ilegal e ilegítima – afinal, assassinar um “subversivo” ou prender um “elemento suspeito”, mesmo que inocente, eram ações que contribuiriam para a Segurança Nacional. Assim, ao lado da militarização, vinha a garantia de que os agentes públicos não seriam responsabilizados por suas ações violentas.
Dois atos normativos explicitam como se construiu tal garantia da impunidade. Não à toa, ambos datam do ano de 1969, ano posterior ao AI-5, que representa importante momento da consolidação da arquitetura institucional das Forças de Segurança. O primeiro é o Decreto-lei 1.001/69 que definiu a Justiça Militar como foro competente para julgar policiais militares que cometessem crimes contra civis. O segundo foi a criação dos “autos de resistência” no âmbito do então Estado da Guanabara. Regulamentado por uma ordem de serviço da Polícia Civil em 1969, esta figura jurídica tinha por objetivo registrar a morte de civis em casos de supostos confrontos com a polícia. A institucionalização de ambos aspectos significa, na prática, que um policial que matasse um civil poderia, desde o registro do ato, afirmar que aquela morte ocorrera em momento de confronto e, por isso, seria legítima. Caso não bastasse o “auto de resistência”, aquele policial seria julgado por seus próprios pares na Justiça Militar. Ora, tratava-se praticamente de uma auto-anistia a cada assassinato cometido por policiais, dando aos agentes estatais a certeza de que não seriam processados ou responsabilizados por seus crimes.
A soma da militarização com a garantia da impunidade deixou como legado uma polícia que não se submete às leis e ao controle da sociedade. A lógica de enxergar nas “classes perigosas” e nos opositores políticos a figura de inimigos a serem combatidos continuou operando após a ditadura, tornando a violência de Estado um dos principais entraves à democracia.