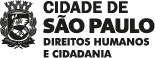As lutas pela Reforma Agrária foram alguns dos elementos sensíveis que levaram ao golpe de 1964. O período mais brutal da repressão no campo antecedeu o golpe militar com perseguições, torturas e assassinatos das lideranças camponesas que se opunham ao projeto político e econômico hegemônico. A destruição das organizações camponesas, que reuniam massas na luta por reforma agrária, foi condição para que o golpe de Estado se efetivasse.
Neste contexto, setores da Igreja Católica cumprem um papel fundamental de resistência em tempos duros da ditadura militar. Era difícil para o regime combater a Igreja, pois ela personificava os ideais cristãos também defendidos, só que de maneira deturpada pelos militares para combater o comunismo.
No início dos anos de 1960, a ala progressista da Igreja Católica criou as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Estas eram baseadas na Teologia da Libertação e se tornaram importantes espaços para os trabalhadores do campo e da cidade se organizarem e lutarem contra as injustiças e por seus direitos. Os teólogos da libertação fazem uma releitura das sagradas escrituras da perspectiva dos oprimidos e condenam o capitalismo, considerando-o um sistema anti-humano e anticristão. Em meados da década de 1970, as CEBs já existiam em todo o país.
Camponeses mortos e desaparecidos
Gilney Viana, em seu livro “Camponeses mortos e desaparecidos: excluídos da justiça de transição”, apresenta uma leitura histórica sobre os homens e mulheres, camponeses e apoiadores das lutas por terra que, no período entre 1961 e 1988, foram mortos ou desaparecidos. Lideranças camponesas, sindicalistas, jornalistas, advogados e religiosos foram perseguidos e mortos como forma de repressão à sua atuação política. A maior parte desses lutadores assassinados permanece até hoje excluída dos direitos da Justiça de Transição, sem investigação dos crimes, sem reparação aos familiares, sem reconhecimento do Estado.
Foram 1.196 casos estudados de mortes e desaparecimentos forçados de camponeses e seus apoiadores, a partir dos registros da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag), Comissão Pastoral da Terra (CPT), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MTST), e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República do Ministério do Desenvolvimento Agrário (SDH/MDA) à luz dos direitos da Justiça de Transição. Há registro de nomes, data e local de morte ou desaparecimento de cada um dos casos estudados de camponeses e apoiadores, incluindo as características da militância da vítima e o indicativo de envolvimento de agentes do Estado que, por ação, conluio ou omissão, estiveram envolvidos nos crimes de morte e desaparecimento. O autor destaca que 602 casos apresentados poderiam ter sido examinados e reconhecidos pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), mas não foram.
Sobre os crimes cometidos no campo, muitos deles ainda não têm o devido inquérito policial que garanta a abertura de um procedimento investigativo. Ainda assim, quando o inquérito policial é instaurado, a realidade para a população camponesa é o descaso, a morosidade e a impunidade. A mesma aliança que promoveu violências contra lideranças camponesas, fez com que o Estado aprovasse leis com lacunas tais que dificultam o reconhecimento oficial dos crimes cometidos contra camponeses. Isso aconteceu na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, na Comissão de Anistia e na própria Comissão Nacional da Verdade, assinalando a existência de causas institucionais e políticas que restringiram o acesso de camponeses aos direitos da Justiça de Transição.
Guerrilha do Araguaia
Na década de 1970, eclodiram algumas lutas camponesas nas regiões Norte e Centro-Oeste do país. A mais famosa foi a Guerrilha do Araguaia (1972 – 1974), ocorrida ao norte do hoje Estado de Tocantins. Na região conhecida como Bico do Papagaio, em 1969, um trabalhador vinculado ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB) comprou um sítio onde foi iniciado um processo de treinamento de guerrilha, inspirado na revolução chinesa a partir dos ideais de Mao Tse-tung. O objetivo era estabelecer relações com os camponeses da região e, aos poucos, conscientizá-los da necessidade da luta armada contra o latifúndio e o governo militar. Mesmo com apoio dos camponeses locais, a Guerrilha do Araguaia teve um trágico desfecho após o combate das Forças Armadas.
O partido considerava, desde 1962, a questão agrária como tarefa urgente para a revolução brasileira, mesmo em sua fase nacional e democrática. As disputas por terra seriam o elemento decisivo para garantir a adesão das massas ao exército revolucionário, já que a região abrigava uma população que vivia no abandono, na ignorância e na miséria nos mais diversos níveis.
Devido à repressão brutal dos latifundiários e da polícia, as ações no campo assumiram um caráter radical, sobretudo nas regiões de posseiros onde são frequentes os choques armados com grileiros. De uma perspectiva estratégica, as lutas no campo seriam importantes para garantir a sobrevivência dos revolucionários na fase de guerrilha, enquanto o exército popular não estivesse organizado. Situada na divisa entre três grandes Estados do país – Pará, Goiás e Maranhão –, a região escolhida para a preparação dos guerrilheiros poderia contribuir para a eclosão de outros focos de resistência armada ao regime autoritário.
Após os primeiros enfrentamentos com os militares, os combatentes passaram a reconhecer-se como as Forças Guerrilheiras do Araguaia (Foguera). O apoio da população local vinha sendo trabalhado desde a chegada dos primeiros militantes, com a abertura de escolas, farmácias e pequenos comércios. No entanto, como descrito no Relatório Arroyo, a guerrilha estava em sua fase embrionária, de treinamento e preparação, sendo que o amplo apoio das massas estava idealizado para se consolidar em um período de dois anos.
As operações das Forças Armadas na região do Araguaia apresentada no relatório final da CNV mostram que a atuação de agentes do Estado seguia um cuidadoso planejamento. As violações perpetradas por militares não resultaram de excessos ou casos isolados. Ao contrário, elas constituíam o cerne da doutrina, que determinou o comportamento das Forças Armadas na região. No natal de 1973, os militares chegaram à área onde se concentravam os guerrilheiros e executaram figuras que ocupavam posições de comando. Ao longo de 1974, as Forças Armadas seguiram buscando guerrilheiros que não tinham sido presos ou mortos nas campanhas levadas a cabo até aquele momento. Os jovens que lutavam contra a ditadura na Guerrilha do Araguaia foram duramente reprimidos, executados e derrotados em 1975, depois de mais de dois anos resistindo. O crime foi denunciado internacionalmente e condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. O Brasil ainda responde ao cumprimento de Sentença do caso que ficou conhecido como Caso Julia Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil.
Além destes, dezenas de camponeses e indígenas na região sofreram torturas brutais para relatar qualquer informação. Privação de liberdade e de alimentos, destruição de plantações, incêndios de casas, violências e estupros estavam entre as violações contra moradores. Muitas delas cometidas na Casa Azul, conforme entrevistas realizadas por Maria Rita Kehl na Comissão Nacional da Verdade, que estão disponíveis no Arquivo Nacional. Poucos destes crimes foram investigados pelo Estado. A repressão na região não foi exercida excepcionalmente em ações isoladas, ao contrário, foi de incidência constante para desmantelar qualquer forma de resistência ao regime militar.