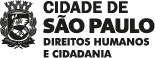Das músicas entoadas por policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro – o famigerado BOPE –, uma das mais famosas diz o seguinte: “o BOPE tem guerreiros que matam guerrilheiros, o BOPE tem guerreiros que acreditam no Brasil”. A referência aos guerrilheiros passaria despercebida se não fosse a história da instituição.
No início dos anos 1980, o coronel Nilton Cerqueira – um dos responsáveis pelo assassinato de Carlos Lamarca – tornou-se Comandante Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Foi o responsável pela implementação da chamada “gratificação faroeste”, que premiava os policiais que mais matavam, e pela criação da Companhia de Operações Especiais (COE) – a qual deu origem ao BOPE. Criado por um nome central da repressão política, não é de espantar que o órgão exiba seu orgulho de “matar guerrilheiros”, e levar essa expertise para matar outros sujeitos. Ou seja, mesmo no quadro da abertura “lenta, gradual e segura”, a marcha da militarização e impunidade seguia em curso.
Naquele momento, movimentos de direitos humanos, organizações da sociedade civil, intelectuais e jornalistas, começaram a criticar e realizar pressão pelo fim dos órgãos de repressão política, como os DOI-CODIs e o Serviço Nacional de Informações. A demanda foi sendo, aos poucos, atendida na abertura. No entanto, foi neste contexto que se cristalizou a divisão entre repressão política e Segurança Nacional de um lado, e controle social e segurança pública de outro. Se os organismos que se referiam explicitamente aos primeiros aspectos foram efetivamente desmontados, as forças que se voltavam para os segundos se mantiveram intactas. Assim, parte das forças progressistas viram como uma vitória o desmantelamento da estrutura repressiva, mas deixaram de observar que os órgãos que se voltavam contra os moradores de favelas e periferias continuariam a atuar normalmente.
É evidente que já naquele momento havia críticas e apontamentos para o fato de que as estruturas voltadas para o controle social permaneciam intactas. No entanto, frente ao otimismo generalizado com o contexto de abertura, especialmente com os debates e a promulgação da “Constituição Cidadã”, essas críticas tiveram pouca força de se contrapor ao lobby das Forças Armadas e das polícias no processo Constituinte. Assim, a Carta Constitucional de 1988 assegurou que poucas mudanças ocorreriam na arquitetura das forças de segurança. Manteve-se a existência de uma polícia militarizada e uma civil, sendo a primeira considerada força auxiliar do Exército com a atribuição do policiamento ostensivo e de “preservação da ordem pública”.
No entanto, o importante é notar que a ausência de mudanças não se deu somente no plano formal. Na prática, a atuação cotidiana tanto das polícias quanto das próprias Forças Armadas manteve-se baseada na lógica militarizada da guerra e na busca pela eliminação dos inimigos. Do mesmo modo, a impunidade para os agentes públicos também continuou existindo.
Assim, se o fim do regime militar trouxe a perspectiva de uma diminuição da violência promovida contra opositores políticos, a dimensão do controle social contra moradores de favelas e periferias se tornou alarmante. A marca da transição para esses setores da sociedade não foi a do otimismo pelo retorno à democracia. Do contrário: os anos 1990 foram marcados por eventos como as chacinas da Candelária, de Vigário Geral e de Acari, no Rio de Janeiro; do Carandiru, em São Paulo; e de Eldorado dos Carajás, no Pará. A violência do Estado continua existindo de forma intensificada.
Em meados dos anos 1990, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão de direitos humanos vinculado à Organização dos Estados Americanos (OEA), realizou uma visita ao Brasil e atestou um cenário gravíssimo de violência promovida por agentes policiais – tanto em serviço, quanto vinculados a esquadrões da morte e grupos de extermínio. Em seu relatório, identificou que entre janeiro de 1994 e outubro de 1995, no Estado de Pernambuco, 1.176 homicídios foram registrados, sendo que 18,3% haviam sido cometidos por policiais e 13,1% por membros de grupos de extermínio. Constatou, ainda, que dentre as mortes provocadas por policiais em serviço, muitas se tratavam de execuções sumárias, a despeito das justificativas de serem mortes em confronto. Já sobre o Estado de São Paulo, a CIDH apresentou a informação de que entre 1988 e 1994 a polícia militar havia matado 4.427 pessoas.
Nos anos que se seguiram à visita da CIDH, o panorama não melhorou. O Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro registra que de 1998 a 2017, 15.957 pessoas foram mortas pelas polícias e tiveram os casos registrados como autos de resistência. Debruçados sobre esta justificativa do período que vai de 2001 a 2011, os pesquisadores Michel Misse, Carolina Grillo, Cesar Teixeira e Natasha Neri, concluíram que impressionantes 99,2% dos casos são arquivados na capital carioca. Estes dados foram confirmados por uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os autos de resistência promovida em 2016 na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
Os números estarrecedores de letalidade policial e a ausência de qualquer investigação – e de responsabilização – demonstram o quanto efetivamente a marca da violência de Estado continua presente em plena democracia.
No entanto, os dados não revelam uma informação fundamental: as mortes provocadas por agentes do Estado têm cor, classe e local de moradia. Diversas pesquisas e relatórios vêm demonstrando que há um inequívoco perfil preferencial das vítimas de violência policial. Em relatório recente, a Anistia Internacional apontou que das 56 mil vítimas de homicídio no Brasil, 30 mil eram jovens, mais de 90% eram homens e 77% eram negros. Cerca de 20 anos após sua visita, a CIDH retornou ao país em 2018, e atestou que aquele cenário havia se mantido ou até mesmo piorado. Por força dos movimentos sociais de familiares de vitimas da violência policial, a Comissão reconheceu que “há um padrão de ação das forças de segurança que gerou situações de execuções extrajudiciais sistemáticas, principalmente de jovens negros e pobres no Brasil”.
Mesmo após mais de três décadas da promulgação da Constituição de 1988, falar com um morador de uma favela ou de uma periferia urbana do Brasil sobre a violência de Estado como algo superado é descabido. Violações de direitos, invasão à residências, a passagem de tanques de guerra, as revistas vexatórias e abusivas, a presença de soldados ostensivamente armados, o uso de helicópteros, as prisões arbitrárias, as execuções sumárias, as chacinas e os desaparecimentos forçados seguem cotidianos.
O que se coloca no centro das justificativas para as violações de direitos cometidas por agentes públicos nos territórios empobrecidos hoje é a chamada “guerra às drogas”. As bases para tal discurso vão se construindo precisamente ao longo dos anos 1970, quando a figura do “traficante” de drogas passa a ocupar espaço central enquanto inimigo público, ainda ao lado dos “subversivos” e “terroristas”. Para a jurista Vera Malaguti Batista, a lei 5.726 de 1971, que dispunha sobre medidas repressivas ao tráfico e ao uso de drogas, acabava por transpor “para o campo penal as cores sombrias da Lei de Segurança Nacional”.
Em síntese, percebe-se que a ditadura militar brasileira trouxe muitos aprendizados sobre formas de violação de direitos humanos, com experiência acumulada pelas forças de segurança que se voltavam para o controle social dos moradores de favelas e periferias ao longo da história brasileira. Em seguida, “aprimorou” estas práticas construindo uma estrutura repressiva pautada na militarização e na impunidade, atingindo diretamente as classes pobres, periféricas e faveladas.